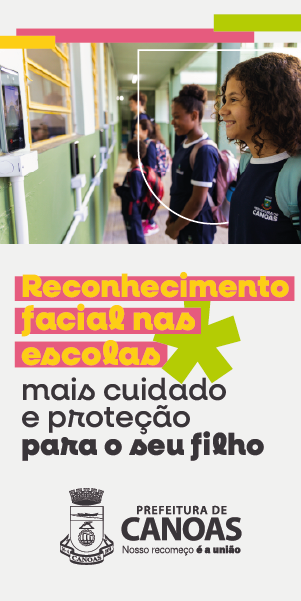Qual é a relação entre o ódio de uma parcela dos brasileiros contra o maior líder popular da história recente e a fratura do projeto de conciliação que ele representou nos anos que ocupou o poder? O Seguinte: recomenda e reproduz o artigo de Eliane Brum publicado pelo El País
Lembro duas cenas da conciliação que Lula promoveu no Brasil da primeira década do século.
Na primeira, ocorrida durante a campanha presidencial de 2002, só há três testemunhas. Uma delas sou eu. É uma cena pequena, mas ela sempre teve uma enormidade para mim, porque não acredito nem em deus nem em diabo, mas acredito que ambos vivem nos detalhes.
Eu entrevistava uma mulher da elite paulistana que namorava um dos principais industriais de São Paulo. Juntos, eles foram decisivos para que Lula conversasse com uma parte da elite, a que era conversável, e costurasse um apoio fundamental para a vitória do PT em 2002, depois de três derrotas consecutivas. Apoio que se concretizou na “Carta Ao Povo Brasileiro”, na qual Lula se comprometeu não com o povo, mas com o mercado, a manter as principais linhas da política econômica.
É preciso lembrar que, naquela eleição, Lula vestiu Ricardo Almeida e circulou pelos salões da elite de São Paulo, uma porta dourada aberta por Marta Suplicy, hoje no (P)MDB. Não apenas circulou, como encantou. Lula tornou-se pop para milionários que acreditavam ser esclarecidos, empreendedores, modernos e cosmopolitas. Havia algo de muito sedutor num operário, num líder sindical, que gostava deles.
E havia uma pressão social crescente no Brasil. Após o deslumbramento com a volta da democracia, o país vivera o impeachment de Fernando Collor, com os carapintadas nas ruas, e vivia um final de segundo mandato bastante penoso de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Cidade de Deus, o filme de Fernando Meirelles e Katia Lund, era a expressão do Brasil de 2002.
Uma parcela da elite econômica do país compreendeu a delicadeza do momento e costurou apoios e acordos, desfilando Lula pelos salões para provar aos pares que ele era tão palatável quanto seu caviar. E Lula, inteligente como é, desempenhou seu papel com brilhantismo.
Eu estava numa dessas mansões do Jardim Europa, onde só vivem os ricos muito ricos de São Paulo, e os ricos muito ricos de São Paulo são muito ricos em qualquer lugar do mundo. Entrevistava uma das principais anfitriãs de Lula. E ela me dizia o quanto Lula era fascinante e o quanto o Brasil precisava mudar.
De repente, interrompeu a fala. E chamou alguém. Num tom elegante, mas imperativo. A empregada doméstica estava no andar de cima, mas foi instada a descer para fechar a cortina da sala onde nós duas estávamos. Percebi que de fato não ocorrera à dona da casa que ela mesma poderia se levantar do sofá e andar alguns passos. Era a vida dela, sempre tinha sido. Não poderia haver outra.
Ali estava posta a mágica de Lula. Essa mulher podia circular pelos salões com o candidato do PT vestido em ternos de grife e ao mesmo tempo chamar a empregada para fechar a cortina. Pelo toque alquímico de Lula, as contradições por um momento apagavam-se.
Salto para 2006.
O rapper MV Bill, um dos criadores da Central Única das Favelas (CUFA), está na Villa Daslu, que então era chamada de “templo do luxo” ou “meca dos estilistas”. Uma construção de 20 mil metros quadrados e colunas neoclássicas na Marginal Pinheiros, que vendia de roupas de grifes internacionais a helicópteros. Na época, Eliane Tranchesi, a proprietária, já estava às voltas com denúncias de sonegação de impostos, mas apostava alto na conciliação com o outro lado dos muros.
Se, em 2002, a expressão cultural do Brasil era Cidade de Deus, o filme, em 2006 a expressão cultural foi Falcão, meninos do tráfico, o documentário de MV Bill e Celso Athayde. A obra havia sido exibida três semanas antes no programa Fantástico, da TV Globo, em horário nobre do domingo. Ao mostrar a vida – e a morte – dos “soldados” do tráfico em favelas pelo Brasil, Falcão causou enorme impacto em pessoas que não costumavam se impactar com o genocídio dos meninos negros e pobres das comunidades e periferias: dos 17 entrevistados, todos muito jovens, apenas um havia sobrevivido para assistir ao programa naquela noite de domingo.
Lula estava há quase quatro anos no poder, era candidato à reeleição e o PT já enfrentava as denúncias do mensalão, esquema de compra de votos de parlamentares que Lula afirmava desconhecer. A “conciliação” era ainda uma tese em vigor, com um presidente que não só havia cumprido rigorosamente o acordado na Carta ao Povo Brasileiro, ao não mexer na condução da economia, como ainda mantinha muito da sua mística apesar das primeiras denúncias de corrupção do PT no poder.
Para lançar o livro Falcão, meninos do tráfico na Villa Daslu, MV Bill subiu ao quarto andar com 30 moradores de favelas. A loiríssima Eliana Tranchesiresumiu, com clareza poucas vezes vista, o tom da conciliação costurada no Brasil de Lula: “Não estamos aqui para encontrar culpados pela tragédia em que vivem essas crianças. Estamos aqui para juntar todo mundo, ricos e pobres, as forças de todo mundo”.
Essa era a mágica. Juntos, o rapper negro da Cidade de Deus, no Rio, e a loira empresária paulistana que fraudava o fisco celebravam a possibilidade da conciliação de dois países apartados. O Brasil, um dos lugares mais desiguais do mundo, deveria se conciliar sem olhar para o que causava a desigualdade. Ou, o tema mais sensível, sem tocar na renda dos mais ricos nem fazer mudanças estruturais que atingissem seus privilégios.
Estavam, como anunciou Eliana Tranchesi, “todos juntos, ricos e pobres”. E cada um no seu lugar. Na Villa Daslu, os negros eram trabalhadores uniformizados e os o moradores de favelas que ali entraram naquele dia voltariam em seguida para suas casas sem saneamento básico e jamais poderiam comprar sequer um botão no “templo do luxo”. Mas, deslocados por um momento do seu lugar apenas para reafirmá-lo, eram bem-vindos e até amados. A imagem produzida era vendida como se realidade fosse. Era uma cena poderosa e é possível que muitos acreditassem nela. O Brasil vivia um momento muito particular.
Diante da mistificação, uma voz se levantou na plateia: “O consumismo é uma das causas dessa tragédia. Estamos no templo do consumo. Isso aqui é o responsável. Se eu lembrar do país e da desigualdade em que vivemos, esse local é uma violência”.
O mal-estar se instalou. O idílio acabara de partir-se. “Para satisfazer o sonho de consumo de comprar um tênis, quem está na favela às vezes tem que matar. Mas não para comprar um tênis da Daslu, porque aí tem que matar muito mais”, somou outra voz. Farpas verbais foram trocadas, a plateia branca fez sinal para cortarem o microfone.
A líder da favela Coliseu, uma mulher negra e desempregada, levantou-se então para defender a anfitriã: “Ela é rica porque trabalhou muito para ser rica”.
Apoteose. Gritos e palmas. A conciliação estava salva no Brasil de Lula. Mais tarde, Eliana Tranchesi seria presa por sonegação fiscal e outros crimes, condenada a 94 anos de prisão, e a Villa Daslu deixaria de existir. Outros “templos de consumo” tão seletos quanto, mas mais discretos, foram erguidos em São Paulo. Inclusive no próprio local da então gloriosa Villa Daslu.
A mística da conciliação sobreviveria por mais tempo.
O Brasil governado por Lula teve aumento real de salário mínimo, teve redução significativa da miséria, teve ampliação do acesso à universidade, teve melhorias importantes no Sistema Único de Saúde (SUS), teve Estatuto da Igualdade Racial, teve garantia de crédito para os mais pobres. Isso não é pouco e fez enorme diferença na vida de quem nem sempre podia comer.
Em grande parte, a melhoria da renda dos mais pobres, sem tocar na renda dos mais ricos, foi possível pela exportação de matérias-primas para a China, que vivia anos de crescimento acelerado. Mas esse tipo de desenvolvimento teve um custo alto para a Amazônia, um tipo de custo que não é recuperável – e num momento em que o planeta vive a mudança climática causada por ação humana. É o custo-natureza, aquele que alguns autores definem como “o trabalho não pago da natureza”.
É por essa razão que as contradições apareceram primeiro na Amazônia, na construção das grandes hidrelétricas e, com mais impacto, na maior de todas elas: Belo Monte. Em Altamira e região do Xingu todo o ovo da serpente já estava desenhado há muitos anos, mas era convenientemente longe demais. Lula e depois Dilma, assim como o PMDB, poderiam sempre contar com a desconexão do centro-sul urbano com relação à floresta. E o centro-sul não decepcionou também desta vez. Nem a parte da esquerda ligada ao PT, que mostrou a seletividade de sua preocupação com os direitos humanos e sua ignorância com relação à mudança climática e ao meio ambiente. Há uma parcela do PT e da esquerda que está cimentada no século 20. Sequer chegou a maio de 1968.
Era nas regiões amazônicas atingidas pelas grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que os povos seriam sacrificados em nome de algo supostamente maior, o desenvolvimento. A conciliação tinha sangue, suor e lágrimas, mas bem longe das capitais.
Os brasileiros que se importam de fato com a Amazônia, para além dos ufanismos de ocasião, são uma minoria. E um número menor ainda consegue fazer a relação entre o mal-estar cotidiano nas cidades e a destruição da floresta e de outros ecossistemas. Os brasileiros, assim como a maioria dos habitantes do planeta, vivem a catástrofe ambiental mas dão outros nomes a ela.
Se a água não presta ou se a água falta, acham que basta ter aumento de salário, para poder comprar água no supermercado, ou o governo do momento fazer uma obra, para que a água volte para as torneiras. Ainda não compreenderam que a água será a maior preocupação de seus filhos e netos.
Também por isso Belo Monte e outras grandes obras tornaram-se possíveis e raramente são citadas como um passivo de Lula e de Dilma, mesmo por seus odiadores. Exceto quando aparecem ligadas ao propinoduto denunciado pela Operação Lava Jato. O tema da corrupção foi sequestrado pela direita – e a esquerda ligada ao PT preferiu se omitir diante das violações de direitos humanos nas grandes obras do PAC, como Belo Monte, e também da Copa de 2014.
A conciliação de Lula só podia ser provisória. Num país tão desigual como o Brasil, não é possível fazer justiça social sem mudanças estruturais – ou sem pelo menos mexer na renda dos mais ricos, redistribuindo a riqueza existente.
Há uma pergunta, sempre repetida, e que após a prisão de Lula se torna ainda mais ruidosa: “por que odeiam tanto Lula?”
É uma pergunta legítima. E tem sido respondida com frequência pelo preconceitodas elites com o que Lula representa: o nordestino, o trabalhador braçal, o pobre. Faz sentido. Mas acredito existir mais do que isso. Por várias razões e também porque, se essa fosse toda a explicação, Lula não teria terminado o segundo mandato – oito anos no poder e o escândalo do mensalão em curso – com quase 90% de aprovação.
Suspeito que mesmo os mais ricos se incomodam com a miséria. A não ser que você seja um psicopata, é duro ver pessoas destruídas nas ruas. Ou, sendo mais cínica, a imagem da miséria pode ser perturbadora porque contamina o cenário dos dias, nos faróis e nas calçadas. E pode ser perturbadora porque, por mais seguranças que se bote na porta, por mais vidros blindados nos carros, a miséria acaba transpondo os muros e ameaçando a paz armada do Brasil.
Ainda que os brasileiros, e aí não só os mais ricos, tenham alcançado uma desconexão espantosa com relação à vida torturante dos mais pobres, em especial à dos negros, não me parece que alguém goste que o Brasil tenha tanta miséria e desespero. E também me parece que mesmo os mais ricos gozaram com a popularidade internacional do Brasil de Lula, visto como o país que tinha superado o passado e se transformava numa potência do presente. Sem contar que os mais ricos ficaram mais ricos neste mesmo Brasil.
Se a conciliação vendida por Lula era provisória, isso só ficou claro no governo de Dilma Rousseff. E talvez seja essa perda da ilusão que os mais ricos e setores da classe média não perdoem em Lula, acentuada pela piora na economia quando se acreditava que o Brasil já não poderia retroceder. Os protestos que irromperam em 2013 tiveram muitos sentidos, muitos deles contraditórios. Um dos sentidos – e só um deles – pode ter sido esse, o da perda da ilusão, que se materializou nessa rua polifônica, onde só o que ficava claro era uma furiosa e confusa insatisfação.
A ilusão de que é possível reduzir a pobreza sem perder privilégios, que vigorou na primeira década deste século e foi amplamente propagandeada pelo maior líder popular da história recente, é muito, mas muito sedutora. É necessário incluir na análise deste momento histórico o peso subjetivo que essa ideia de conciliação exerceu nesses anos de magia, em que o que era impossibilidade foi vendido como possibilidade em exercício. E o quanto essa subjetividade impactou nos fatos objetivos que fizeram do Brasil um país aos espasmos.
Uma imagem-síntese desse momento ocorreu em 2010, no último ano do segundo mandato de Lula. O então bilionário Eike Batista, símbolo da pujança do Brasil da primeira década, comprou o terno que Lula usou na posse, em 2003, com um lance de meio milhão de reais. O dinheiro foi destinado a um projeto de alfabetização na favela de Paraisópolis, em São Paulo. E o terno foi doado pelo bilionário ao acervo de Lula.
O leilão, na Daslu, foi promovido por Wanderley Nunes, cabeleireiro da então primeira-dama Marisa Letícia. Ela e Eike dividiram uma mesa. Estas são também imagens que fazem parte dos oito anos de governo de Lula, tanto quanto as dele com o povo do semiárido nordestino. Uma parte não fica completa sem a outra.
O poder dessa conciliação provisória sobre a subjetividade da vida brasileira não pode ser subestimado. A subjetividade é seguidamente esquecida nas análises dos contextos históricos, mas em geral ela é tão ou mais importante que os acontecimentos objetivos – e os determina.
É possível que parte do ódio destinado a Lula pelas elites que em 2015 desceram à Paulista para protestar com a camisa da seleção, acompanhando centenas de milhares de brasileiros, pode ser atribuído à suspensão dessa ilusão. Afinal, não seria possível conciliação sem perda de privilégios. E privilégios, dos mais evidentes a ter uma empregada que aceite descer para fechar a cortina da sala, a elite brasileira – econômica, política, intelectual – não está disposta a perder. A corrupção era a justificativa perfeita, porque elevava moralmente o portador da crítica e o salvava de perguntas cujas respostas lhe devolveriam uma imagem menos límpida.
Nos últimos anos de Lula e nos primeiros de Dilma Rousseff, os efeitos de algumas medidas sociais começaram a se fazer sentir. A ampliação do acesso dos negros às universidades talvez tenha sido o momento em que os privilégios foram colocados em xeque. Tratava-se ali de mexer em algo estrutural no Brasil, o racismo. E naquele momento a tensão tornou-se explícita, sinalizando que havia fissuras no projeto de conciliação.
Os lucros eram ótimos quando o Estatuto da Igualdade Racial, ainda em fase de elaboração, foi combatido com fúria por setores da elite. Os negros, cada vez mais presentes nos espaços de poder, avançavam sobre lugares simbólicos muito caros também para parte da classe média. Haveria que perder: objetivamente, vagas para brancos nas universidades e em concursos públicos; subjetivamente, muito mais. As reações foram imediatas.
Nos últimos anos, o avanço do protagonismo negro tem mostrado o quanto mexer nos privilégios mais subjetivos, como o de falar sozinho nos espaços de poder, é um tema explosivo no Brasil. Mesmo pessoas que se consideram de esquerda reagem mal, em especial quando o privilégio a ser perdido é o de se considerar um branco bacana.
A ampliação das ações afirmativas contra o racismo, assim como o Bolsa Famíliapriorizando as mulheres como titulares do programa, colocaram algo muito potente em movimento no Brasil, algo que seguirá se movendo para muito além dos fatos do momento. Isso pertence aos governos do PT. Neste sentido, se Lula mantinha os bolsos das oligarquias e dos rentistas cheios, por um lado, por outro solapava algumas bases pelas beiradas.
Ao mesmo tempo, não é permitido esquecer, seu partido se corrompia. A corrupção não é um dado a mais, na medida em que ela define escolhas de desenvolvimento. Não há nada mais eficiente para gerar propinas e caixa dois do que obras, em especial se elas forem grandes. Como Belo Monte.
Os programas sociais e as ações afirmativas dos governos do PT acabaram por colocar em risco a conciliação vendida por Lula. Essa fissura entre tantas expôs o óbvio. Não havia mágica. A questão mais profunda do Brasil continuava a ser a mesma: para ter conciliação de fato é preciso que uma parcela da população perca privilégios. E isso, para as elites e também para setores da classe média, era – e continua sendo – inaceitável.
Não me refiro aqui a qualquer privilégio. Aquilo que não custa perder não é privilégio. Privilégio custa. E mesmo quem tem bem poucos se agarra aos seus, o que explica um tanto de ódio mesmo entre pobres urbanos. Há sempre algo a perder, mesmo que seja uma pequena superioridade sobre o vizinho.
Assim, Lula tem alguma razão quando diz que o perseguem por ter colocado “negro dentro da universidade”. Mas o que ele precisa dizer também é que esta foi a conciliação que ele vendeu ao Brasil e na qual se lambuzou por vários anos. Esta foi a conciliação que o elegeu e o reelegeu mesmo após o mensalão, uma conciliação que tem sua expressão bem acabada na arquitetura político-financeira construída no segundo mandato, aquela que o PT chamou de “governabilidade”. Esta foi a “paz” pela qual possivelmente ele também tenha se deixado seduzir. E que nos trouxe até aqui.
O mágico precisa saber que sua mágica é truque, não realidade.
Não é possível saber qual é o tamanho do Lula que foi para a prisão. A memória é construída depois, a memória é dada pelo futuro tanto quanto pelo passado. Ainda vivemos o agora. E ele é furioso.
Para compreender o legado de Lula, o conciliador, é preciso enfrentar o inconciliável em Lula.
Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora dos livros de não ficção Coluna Prestes – o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos, e do romance Uma Duas.