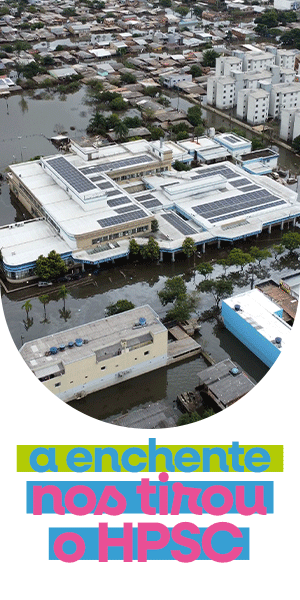Maior rede social do mundo quer penetrar no universo infantil, a partir dos 6 anos. Por que isso implica riscos comportamentais, políticos e neuronais. O Seguinte: recomenda e reproduz o artigo publicado pelo Outras Palavras
Nos últimos meses, as empresas de redes sociais têm passado por escrutínios cada vez mais rigorosos por parte dos críticos de mídia, grupos de vigilância e comitês do Congresso dos Estados Unidos.
A maioria das críticas gira em torno de como Facebook e Twitter facilitaram a propagação de mensagens sediciosas criadas por agentes russos durante as eleições presidenciais dos EUA em 2016, com o intuito ostensivo de polarizar os eleitores americanos. Anúncios de autoatendimento, “bolhas de filtro” e outros aspectos das redes sociais tornaram a manipulação das massas fácil e eficiente.
No entanto, algumas pessoas estão manifestando preocupações mais profundas quanto aos efeitos sociais, psicológicos, cognitivos e emocionais dessas plataformas, particularmente quando impactam as crianças.
O Facebook, por exemplo, sofreu um ataque de um grupo improvável de críticos: alguns de seus próprios ex-diretores. Seus comentários coincidem com o lançamento do “Messenger Kids”, o mais recente produto da empresa. Segundo comunicados, seu público-alvo são crianças de 6 a 12 anos (o Facebook não permite que menores de 13 anos criem contas, assim como a maioria dos aplicativos de redes sociais).
Embora o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, tenha se comprometido recentemente a “consertar” a plataforma em 2018, o “Messenger Kids” revela uma agenda diferente: ir pra cima de uma nova geração de usuários, habituá-los à vida virtual, aumentar a participação no mercado e desenvolver fidelidade às marcas em um ambiente mercadológico altamente competitivo. O primeiro presidente do Facebook, Sean Parker, reconheceu no fim do ano passado que seus criadores o projetaram intencionalmente para consumir o máximo possível de tempo e atenção de seus usuários. Segundo Parker, os “likes” e as postagens servem como “um círculo vicioso de validação”, explorando a necessidade psicológica de aceitação social. “Só Deus sabe o que isso está fazendo com os cérebros das nossas crianças”, disse (em citação de Allen, 2017).
Por que os arquitetos do Facebook, Google Plus, Twitter e demais redes sociais recorreriam a essas técnicas? O modelo de negócios do Facebook se baseia na receita gerada pelos anúncios. Um dos primeiros investidores do Facebook, Roger McNamee (2018), escreveu recentemente:
Os smartphones mudaram completamente a dinâmica da publicidade. Em poucos anos, bilhões de pessoas passaram a contar com um sistema de geração de conteúdo para os mais variados fins, facilmente acessível 16 ou mais horas por dia. Isso transformou a mídia em uma batalha para captar a atenção do usuário o máximo possível… Por que pagar a um jornal com a esperança de chamar a atenção de uma determinada parcela de seu público-leitor se você pode pagar ao Facebook para alcançar exatamente o perfil de pessoas que deseja?
Sean Parker e Roger Mcnamee não são os únicos. O investidor e ex-vice-presidente do Facebook, Chamath Palihapitiya, admitiu, no mês passado, que se arrepende de ter ajudado a empresa a expandir seu alcance global (o Facebook tem mais de dois bilhões de usuários em todo o mundo e continua crescendo).
Criamos ferramentas que estão esfarrapando o tecido social, do funcionamento da sociedade… você está sendo programado”, disse Palihapitiya ao público na Stanford Graduate School of Business. “Nada de discurso cidadão, de cooperação; é desinformação, inverdade. E não é um problema dos Estados Unidos somente – não são as propagandas russas. É um problema global… Atores prejudiciais agora podem manipular grupos inteiros de pessoas para que façam qualquer coisa que você quiser. É realmente uma situação muito, muito ruim – (Palihapitiya, 2017).
Outro ex-diretor do Facebook, Antonio García-Martínez, veio a público no meio do ano passado com suas críticas às técnicas da empresa:
Se usar de forma muito inteligente, com diversas interações de aprendizagem automática e tentativa e erro sistemáticas, um marqueteiro sagaz pode encontrar a combinação exata de idade, posição geográfica, hora do dia e preferências musicais e de cinema que determinam o vencedor demográfico de um público. A “taxa de cliques”- para usar o jargão do marketing – não mente… O Facebook tem e oferece segmentação “psicométrica”, cuja meta é definir a parcela do público que é particularmente suscetível à mensagem de um anunciante específico… Às vezes os dados se comportam de maneira antiética… A plataforma nunca tentará limitar esse uso de seus dados, a não ser que os protestos dos usuários atinjam um nível de intensidade impossível de ser silenciado. (García-Martínez, 2017).
Essas declarações são alarmantes, porém não são novidade.
Há anos os cientistas sociais alertam sobre como a tecnologia pode desencadear vícios comportamentais. A antropóloga do MIT Natasha Schüll, que conduziu uma pesquisa nos cassinos de Las Vegas por um período de mais de 20 anos, observou que os caça-níqueis puxam alguns apostadores para uma “zona automática” desorientadora (a pesquisa de Schüll se baseia no trabalho pioneiro da antropóloga Laura Nader, da UC Berkeley, que desenvolveu o conceito “processos de controle” – como indivíduos e grupos são persuadidos a participarem de sua própria dominação). Após entrevistar fabricantes de caça-níqueis, arquitetos de cassinos e apostadores inveterados, entre outros, Schüll conclui, em seu livro Addiction by Design, que a atração magnética dos caça-níqueis se deve, em parte, a suas características profundamente interativas. Especialistas da indústria dos jogos de azar falam abertamente de maximizar o “tempo no dispositivo”. Conforme dito por um consultor a Schüll, “o segredo é a duração do jogo. Quero te manter lá o tempo que for humanamente possível – esse é o truque, é isso que te faz perder” (Schüll, 2012: 58; ver também Nader, 1997).
O professor de negócios da New York University, Adam Alter, autor de Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Getting Us Hooked (2017), argumenta que o botão “gostei” (like) do Facebook tem um efeito comparável. Cada postagem, foto ou atualização do status é uma aposta que pode resultar em perda total (nenhum “gostei”) ou no grande prêmio (viralizar). Os “retweets” do Twitter, os corações do Instagram e as visualizações do YouTube funcionam da mesma maneira (vale mencionar que o YouTube, da Google, e a Amazon também estão fazendo esforços agressivos para açambarcar o mercado juvenil).
No mês passado, apenas três semanas antes do Natal, o Facebook divulgou um comunicado anunciando a chegada do “Messenger Kids”. De acordo com a empresa, o aplicativo foi desenvolvido com a consultoria de pais de família e “especialistas em cuidados parentais” para que fosse seguro para crianças. A plataforma também prometeu limitar a coleta de dados das crianças e não usar o aplicativo para anúncios.
Tais promessas não são sinceras. É óbvio que o “Messenger Kids” é parte de uma estratégia de longo prazo, pensada para viciar as crianças em hábitos de networking social (“likes”, mensagens de texto, bolhas de filtro) o mais cedo possível. Em outras palavras, a ideia é aumentar os níveis de dopamina das crianças nos anos formativos – de modo que picos frequentes desse neurotransmissor se tornem uma parte normal de suas vidas. Uma vez que isso aconteça, será ainda mais fácil para as futuras empresas de redes sociais (que são fundamentalmente agências de publicidade) alimentarem o vício comportamental de bilhões com propaganda personalizada.
Em 2016, a Academia Americana de Pediatria publicou recomendações definindo limites no tempo de utilização de equipamentos eletrônicos por crianças, observando que “os problemas começam quando o uso dessas mídias substitui a atividade física, a exploração prática e a interação social face-a-face no mundo real, elementos cruciais para a aprendizagem” (AAP, 2016).
O “Messenger Kids” pode mergulhar ainda mais as crianças no mundo virtual. Talvez o Admirável mundo novo de Aldous Huxley tenha chegado – pois, como o presciente crítico de mídia Neil Postman escreveu,
na visão de Huxley, não é necessário nenhum Big Brother para privar as pessoas de sua autonomia, maturidade e história. Conforme ele percebeu, as pessoas chegarão a amar sua opressão, a adorar as tecnologias que anulam sua capacidade de pensar… Como ressaltou no Regresso ao admirável mundo novo, os libertários civis e os racionalistas que estão sempre alertas para se opor à tirania “não foram capazes de levar em conta o apetite quase infinito do homem pelas distrações” (Postman, 1985: vii).
No mês passado, Chamath Palihapitiya disse à CNBC que seus filhos de 5 e 9 anos estão proibidos de usar equipamentos eletrônicos, mesmo que peçam constantemente. Bill Gates, Jonathan Ive (designer do iPad), o falecido Steve Jobs e muitas outras figuras bem conhecidas da indústria da tecnologia também impuseram limites estritos ao uso dessas mídias por seus filhos. Eles entendem claramente os efeitos colaterais cognitivos, psicológicos e emocionais dos aparelhos que ajudaram a criar. Se esses célebres personagens tomaram medidas drásticas para proteger seus filhos do lado negro da vida virtual, talvez mais de nós devêssemos seguir seu exemplo.
Para além do imediatismo dos nossos hábitos e práticas individuais e familiares, assoma-se um problema social maior: a possibilidade de um futuro em que as instituições autoritárias tenham a enorme capacidade de moldar as ideias, atitudes e comportamentos de públicos aprisionados por suas próprias compulsões.
Referências
AAP (2016). “American Academy of Pediatrics Announces New Recommendations for Children’s Media Use.” 21 de outubro.
Allen, Mike (2017). “Sean Parker Unloads on Facebook.” Axios.com, 9 de novembro.
Alter, Adam (2017). Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Getting Us Hooked. Nova York: Penguin Books.
García-Martínez, Antonio (2017). “I’m an Ex-Facebook Exec: Don’t Believe What They Tell You Maabout Ads.” The Guardian, 2 de maio.
McNamee, Roger (2018). “How to Fix Facebook–Before It Fixes Us.” Washington Monthly, janeiro.
Nader, Laura (1997). “Controlling Processes: Tracing the Dynamic Components of Power.” Current Anthropology 38(5): 711-738.
Palihapitiya, Chamath (2017). “Money as an Instrument of Change.” Palestra apresentada na Stanford Graduate School of Business, 13 de novembro.
Postman, Neil (1985). Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. Nova York: Penguin Books.
Schüll, Natasha (2012). Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas. Princeton, NJ: Princeton University Press.