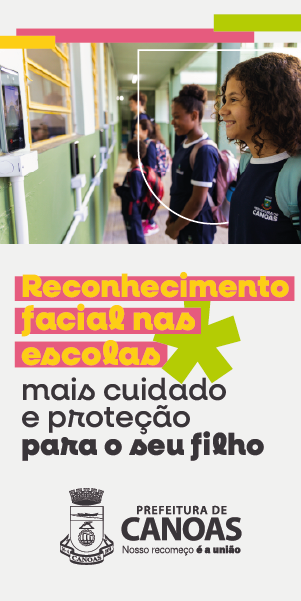Na última semana, assisti a um vídeo de uma audiência pública no Senado Federal, no qual uma pessoa falava da culpabilização dos servidores públicos, discurso esse que tem sido recorrente, nos últimos tempos. Chamou-me a atenção o trecho de um poema citado na ocasião:
“Na primeira noite eles se aproximam
e roubam uma flor
do nosso jardim.
E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem:
pisam as flores,
matam nosso cão,
e não dizemos nada.
Até que um dia,
o mais frágil deles
entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a luz, e,
conhecendo nosso medo,
arranca-nos a voz da garganta.
E já não podemos dizer nada.”
Os versos falam, gritam por nós, por todos os que o leem e com ele se comovem. Joga-nos à face nossa estagnação e parece retratar fielmente o momento em que vivemos: de direitos retirados, de exploração, de enganação e de silêncio. E isso não somente em relação aos servidores públicos. Em nosso drama diário, assistimos ao arquivamento de denúncia contra o Presidente, às discussões sobre as reformas trabalhista, previdenciária e política, ao aumento do preço do combustível, à aprovação de fundo bilionário para partidos, a malas de dinheiro e escândalos cotidianos, e não dizemos nada.
O poema, no entanto, não é recente; foi escrito em 1968, no auge do regime militar, pelo escritor brasileiro Eduardo Alves da Costa. É um poema longo e com uma curiosa história: foi, por diversas vezes, atribuído ao escritor russo Maiakóvski, em razão do título “No caminho com Maiakóvski”. Coloco-o, na íntegra, ao fim deste texto. Vale a pena cada linha. Deixou-me com os nervos à flor da pele; deixou-me na obrigação de escrever e de dizer algo.
Depois de lê-lo, lembrei-me do conto A casa tomada, do escritor argentino Júlio Cortázar. É, também, um texto primoroso, publicado no igualmente primoroso livro Bestiário, em 1951. O narrador e sua irmã, Irene, vivem sozinhos numa imensa casa. Certo dia, ele ouve um barulho e fecha uma grande porta, passando a viver com a irmã na metade que restou da residência.
“Estávamos muito bem, e pouco a pouco começamos a não pensar. Pode-se viver sem pensar.”
Não há indagações, ninguém verifica quem tomou a outra parte da casa. Simplesmente, os dois irmãos, apesar de eventualmente lamentarem a situação, acostumam-se a viver com o que sobrou. Noutro dia, enquanto o personagem se dirige à cozinha, ouve de longe mais um barulho. Toma a irmã pelo braço e, com a roupa do corpo, sai. Sem perguntar. Sem saber quem tomou a casa. Os dois saem e não dizem nada.
Há infinitas análises sobre esse conto. Mas o que me fez trazê-lo à tona, após a leitura do poema de Eduardo Costa, foi justamente essa articulação entre a casa tomada e o silêncio. Estaremos sendo esses dois personagens de Cortázar, tricotando, fazendo a janta, cuidando dos filhos, enquanto o país está sendo tomado? Já nos arrancaram a voz da garganta? Não diremos nada?
Eu ainda tenho voz, eu ainda olho o que está acontecendo além da porta. Eu acompanho as notícias. Eu dialogo com meu filho. Precisamos estar atentos e não podemos nos calar, apesar do cansaço e da descrença que nos tomam.
Digo infinitamente pouco, com este texto: trato, sobretudo, sobre a necessidade de dizer. Para que não matem nosso cão, não pisem nosso jardim, não arranquem nossa voz, nem tomem nossa casa.
Aqui, o poema, na íntegra, com seu final apoteótico:
No caminho, com Maiakóvski
(Eduardo Alves da Costa)
Assim como a criança
humildemente afaga
a imagem do herói,
assim me aproximo de ti, Maiakóvski.
Não importa o que me possa acontecer
por andar ombro a ombro
com um poeta soviético.
Lendo teus versos,
aprendi a ter coragem.
Tu sabes,
conheces melhor do que eu
a velha história.
Na primeira noite eles se aproximam
e roubam uma flor
do nosso jardim.
E não dizemos nada.
Na Segunda noite, já não se escondem:
pisam as flores,
matam nosso cão,
e não dizemos nada.
Até que um dia,
o mais frágil deles
entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a luz, e,
conhecendo nosso medo,
arranca-nos a voz da garganta.
E já não podemos dizer nada.
Nos dias que correm
a ninguém é dado
repousar a cabeça
alheia ao terror.
Os humildes baixam a cerviz;
e nós, que não temos pacto algum
com os senhores do mundo,
por temor nos calamos.
No silêncio de meu quarto
a ousadia me afogueia as faces
e eu fantasio um levante;
mas amanhã,
diante do juiz,
talvez meus lábios
calem a verdade
como um foco de germes
capaz de me destruir.
Olho ao redor
e o que vejo
e acabo por repetir
são mentiras.
Mal sabe a criança dizer mãe
e a propaganda lhe destrói a consciência.
A mim, quase me arrastam
pela gola do paletó
à porta do templo
e me pedem que aguarde
até que a Democracia
se digne a aparecer no balcão.
Mas eu sei,
porque não estou amedrontado
a ponto de cegar, que ela tem uma espada
a lhe espetar as costelas
e o riso que nos mostra
é uma tênue cortina
lançada sobre os arsenais.
Vamos ao campo
e não os vemos ao nosso lado,
no plantio.
Mas ao tempo da colheita
lá estão
e acabam por nos roubar
até o último grão de trigo.
Dizem-nos que de nós emana o poder
mas sempre o temos contra nós.
Dizem-nos que é preciso
defender nossos lares
mas se nos rebelamos contra a opressão
é sobre nós que marcham os soldados.
E por temor eu me calo,
por temor aceito a condição
de falso democrata
e rotulo meus gestos
com a palavra liberdade,
procurando, num sorriso,
esconder minha dor
diante de meus superiores.
Mas dentro de mim,
com a potência de um milhão de vozes,
o coração grita – MENTIRA!