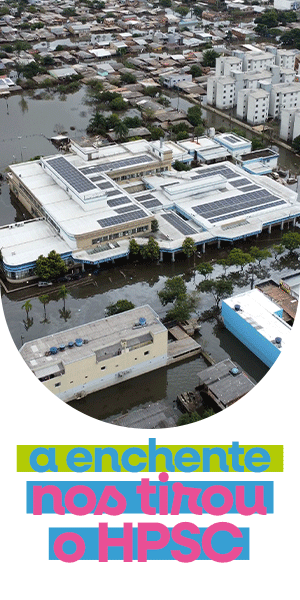As matanças em prisões brasileiras revelaram o subconsciente fascista de uma boa parte da população. O Seguinte: recomenda e reproduz a análise de Juan Arias para o El País
“É vergonhoso viver num país que não honra sequer os seus condenados”. A afirmação é dura, pois equivaleria a viver num país ou numa sociedade de mentalidade fascista com relação ao grave e dramático problema dos presídios e sua violência. A afirmação foi feita pelo maior antropólogo vivo brasileiro, Roberto DaMatta, na sua última coluna em O Globo.
As matanças de presos no início deste ano, perpetradas nas penitenciárias de Manaus e Roraima, com um saldo de 91 detentos mortos, decapitados e esquartejados pelas diferentes facções rivais que nelas convivem, revelou, de fato, o subconsciente fascista de boa parte da população, em todos os níveis sociais, simbolizado nesta frase: “Bandido bom é bandido morto”.
Chegaram a expressá-la publicamente tanto políticos como simples cidadãos, que não só não parecem ter se comovido com a tragédia humana dos mortos e das famílias, mas também chegaram a justificá-la e a defendê-la. Às vezes, até a aplaudi-la.
O governador do Amazonas, José Melo, chegou a dizer que entre os presos sacrificados brutalmente “não havia santos”. E o então secretário nacional da Juventude do Governo Temer, Bruno Júlio, já afastado do cargo, afirmou que “tinham que fazer uma chacina por semana”.
No que diz respeito às pessoas comuns, basta atualmente tomar um ônibus ou entrar num bar para escutar as queixas sobre a presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, que pediu indenização às famílias dos presos mortos por não terem sido protegidos pelo Estado. As redes sociais estão repletas de indignas aprovações das chacinas.
– E quem é que indeniza as famílias das vítimas perpetradas por esses presos quando estavam em liberdade? – gritava um senhor, de classe média, tentando contagiar com sua indignação os outros passageiros do ônibus, conseguindo apenas o beneplácito dos presentes.
Talvez a chave desse substrato fascista que DaMatta condena, dessa atitude de deixar de se preocupar com o outro e de chegar até o ódio contra os presos, com os quais ninguém se preocupa, nem que sejam tratados pior que animais, esteja nesse excesso de violência com que o brasileiro, sobretudo nas grandes cidades, é obrigado a viver todos os dias.
Um só exemplo: os 36.000 assaltos no Rio durante outubro passado.
– As pessoas saem todo dia para trabalhar pensando que podem ser roubadas ou até assassinadas – dizia-me uma professora do ensino médio de São Paulo que já foi assaltada três vezes.
Tenho escutado pessoas, até mesmo de grande sensibilidade cultural e humana, justificando o fato de que, em certos lugares, a polícia, ao prender um assaltante ou estuprador, execute-o sem maiores escrúpulos e sem se preocupar em entregá-lo à Justiça, “que o acabará soltando”.
Nunca vou me esquecer da declaração de José Eduardo Cardozo quando era ministro da Justiça de Dilma Rousseff. Confessou que ele, pessoalmente, preferiria “perder a vida a passar anos num presídio do Brasil”. E ele era, naquele momento, o responsável pelos mais de meio milhão de presos que vivem em presídios superlotados e perigosos. A pergunta era óbvia:
– O que ele fazia para mudar a situação?
Vemos hoje a resposta na situação infernal que os reclusos vivem, uma situação que, ao que parece, nem as autoridades imaginavam.
Moro há quase 20 anos neste país. Sei que a situação de suas cadeias é comparável à de muitos outros países do mundo. Mas é certo que, quando o assunto é índice de violência, com 60.000 homicídios por ano, o Brasil ganha de qualquer um. E os brasileiros sofrem isso na própria carne. E o Estado, governo após governo, é mudo ou ineficiente.
Há um traço do Brasil que DaMatta não aborda, mas que talvez explique também muitas coisas. Comprovei isso quando cheguei aqui, vindo da Europa. Não entendia por que me exigiam um monte de documentos de todo tipo para fazer qualquer coisa. Ficava surpreso com a função dos cartórios, com sua imponente burocracia.
Foi minha mulher, brasileira, que me explicou:
– Você precisa entender que a ideia que o Estado tem do cidadão comum é que é um bandido em potencial. Você é que tem que demonstrar que não é.
Ao contrário de outros países mais maduros democraticamente, o Estado aqui exige que você prove que não é um criminoso. Onde está então a presunção de inocência? A de que você é uma pessoa decente, que não engana, não rouba nem mente até que se demonstre o contrário?
O Estado está tão acostumado a ver os cidadãos como possíveis transgressores que ele mesmo se transforma, tantas vezes, em um elemento de violência oficial. E se para ele todos somos possíveis ladrões ou assassinos, o que pensará da população carcerária? Para que tantos escrúpulos com essas pessoas? Que apodreçam aí. E se puderem se matar entre si, será menos trabalho para o Estado, que não precisará abrir longos e dispendiosos processos penais para eles.
E se muitos desses detentos, ainda não julgados, forem inocentes? Para os políticos e governos, essas são apenas considerações de almas piedosas. Eles, que sabem como pensa a maioria da sociedade sobre os direitos humanos dos presos, sabem que sua defesa “não dá votos”, como me confessava candidamente um deputado bem conhecido.
No entanto, do ponto de vista humano, nada justifica essa atitude de cunho fascista que a sociedade respira e que explica esse desprezo e essa vontade de vingança contra os presos.
A filósofa e escritora Márcia Tiburi, autora, entre muitas outras obras, de Como conversar com um fascista (Record), analisou muito bem a sombra que todos temos dentro de nós. Essa sensação de que “sou alguém se transformo o outro em ninguém”. Parodiando o “cogito ergo sum” do filósofo francês René Descartes, poderíamos dizer: “humilho, logo existo”. Isso nos leva a nos considerarmos vítimas, quando, no fundo, somos todos carrascos em potencial.
Se o fascismo pressupõe o desinteresse pelo outro e o poder para solapar os direitos humanos desse outro, é fácil chegar a lhe negar até a existência e se sentir livre para humilhá-lo.
Se o outro é o espelho em que nos olhamos, não é difícil projetarmos nele, conscientes ou não, essa sombra que habita até os melhores.
A diferença está entre considerar isso normal ou lutar para nos desfazermos do fantasma, e aceitar que, talvez, não sejamos potencialmente melhores do que aqueles que desprezamos, tememos e preferiríamos aniquilar.