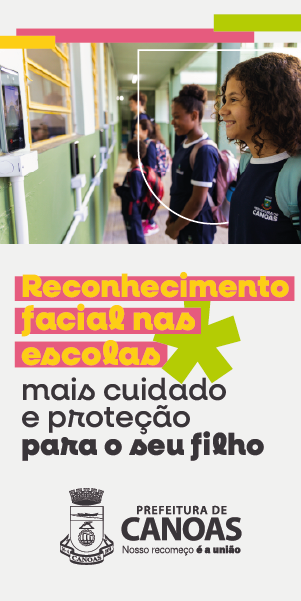Fotografo e publico, logo existo. O Seguinte: reproduz o delicioso artigo publicado pelo El País
Houve um tempo em que eu comia um monte de coisas e não precisava contar nada para ninguém. Não era jornalista da área de comida, nem crítico, nem entusiasta de pães. Fotografia digital era ainda uma promessa e, sem internet, eu apenas me fartava, e pronto. Se comentasse com alguém, era cara a cara. Comer era um ato social quando acontecia à mesa, ou no balcão, com pessoas de carne e osso. Não em rede. Bom, qualquer um com mais de quarenta anos sabe disso.
Trago na memória um rosário de pequenas gulodices solitárias, surrupiadas, fora de hora, deleites clandestinos, prazeres culpados. Um pedaço de paio roubado tarde da noite, subindo numa cadeira para alcançar o panelão fumegante na cozinha de casa (minha mãe começava a preparar a feijoada sempre no dia anterior); ou um chocolate comido no escuro do quarto, como aquele que acabava de chegar ao Brasil, um tal de Toblerone, comprado com moedas de cofrinho, para não dividir com ninguém; ou um hambúrguer devorado nas Lojas Americanas da Rua Direita, quando o sanduíche ainda era difícil de achar. Ninguém presenciou nada, só eu mesmo. Mas eu juro que comi.
Na civilização contemporânea, online, conectada o tempo todo, se não for registrado e postado, não aconteceu. Comeu, jantou, bebeu? Então prove. Não está na rede? Então, não vale. Do ponto de vista filosófico, parece ainda mais complicado. Há o “penso, logo existo”, de Descartes. Há a existência que precede a essência, propagada pelos existencialistas. Mas ainda mal começamos a discutir sobre o “só existo se publico”. Se não registrou a imagem nem ganhou likes, é mentira.
Não estou aqui desfiando lamúrias de dinossauro tecnológico, de tiozão da internet deslocado no ambiente virtual. Pelo contrário: interajo com muita gente e publico ativamente fotos de minhas fornadas e outras coisas mais – imaginando, vá lá, que produzo algo mais próximo do conteúdo informativo do que do exibicionismo. A vida, hoje, é digital. Contudo, presumo que algumas coisas não precisam deixar de pertencer à esfera privada. Sendo tudo tão novo nessa área, ainda engatinhamos a respeito de uma conduta, de uma doutrina, de uma etiqueta que equilibre a convivência entre câmeras, pratos, smartphones, jantares, extroversão, intimidade. Também não vou enveredar por discussões sobre o que é excessivo, ostentatório. Não sou juiz nem tampouco patrulheiro de hábitos.
Quero somente pontuar que as memórias que só existem em nossa cabeça nos tocam de um jeito distinto daquelas que “eternizamos” em variados suportes. Eu me recordo, por exemplo, de minha primeira viagem a Paris. Sozinho, sem muitos propósitos e ignorante sobre métodos. Apenas um curioso, que nem imaginava que, muitos anos depois, viveria de relatar experiências em restaurantes e afins.
Sem caderninho de notas, sem guias, sem referências prévias, sem recursos de geolocalização, entrei por acaso num bistrô apertado, meio escuro, para um almoço tardio. Como chamava? Não sei, passou batido. Mas me rendeu uma das refeições mais emocionantes da minha vida. Entrei, havia mesa disponível. A mulher ficava na cozinha, cuidava de tudo, da entrada à sobremesa; o pai e o filho adolescente atendiam, serviam, cobravam. Também não sei que vinho tomei, era o da casa – uma fumaça de lembrança me diz que se tratava de um Muscadet. Mas tenho certeza de que provei um arenque com batatas inesquecível, e uma musse de chocolate como ainda não consegui repetir (eu não tinha muito repertório, é importante que se diga). E, para citar A. J. Liebling, saí para a rua atordoado e ainda com "fome de Paris".
Tentei voltar ao pequeno restaurante, em viagens posteriores. Lembro apenas que era perto do Museu Picasso, só que não encontrei. Porém, salvo algum dano cerebral, sei que terei a experiência comigo, até o fim (o meu, neste caso). Gravada sem nome e, principalmente, sem foto.
Em meados da década passada, quando a cozinha espanhola de vanguarda ainda povoava os debates e as fantasias de muitos gourmets, fotografar pratos envolvia um dilema: devorar ou clicar? A criação saía da cozinha, muitas vezes verticalizada, comumente finalizada com esferas delicadas, espumas fugazes… O que fazer, capturá-la em seu melhor instante cenográfico, considerando luzes e sombras, e comê-la depois, já desfigurada, derretida, escorrida? Ou prová-la imediatamente, abrindo mão da imagem? Nunca tive dúvidas desse tipo (o que talvez faça de mim um bom comensal, mas um mau divulgador). A prioridade é abocanhar. E depois, pensar nas emoções "recollected in tranquility", como dizia Wordsworth.
Fotos e quitutes tornaram-se indissociáveis, e acho que já estamos nos acostumando. Mas será que precisa acontecer durante todo o repasto? Não dá para fazer só na chegada do prato e depois comer sossegado, à maneira analógica? Provavelmente não: há o tratamento da imagem, a publicação, os comentários, as discussões, a contabilidade das curtidas. Reconheço que, talvez antiquadamente, ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões, cada qual com seu smartphone, sem diálogos presenciais ou interações reais. A pizza esfria e perde o viço: mas a foto chega tinindo aos amigos de rede.
Talvez eu padeça ainda de uma peculiaridade geracional. Não tenho idade bastante para ignorar convictamente o universo da “comida virtual-social” (obs: nem quero, nem posso). Nem sou jovem a ponto de lidar com a nova ordem de um jeito fluido e sem culpa (minha mulher e minha filha estão sempre de olho em mim: celular, na mesa, não!). Sou um usuário em níveis moderados, com fins profissionais, ainda com certa dose de autocrítica. Quem sabe apenas levemente viciado. Sim, a vida digital é mesmo fascinante.
Mal comparando, eu admito que ficaria maluco se, durante minha adolescência, tivesse à mão buscadores e, principalmente, serviços de streaming de música. Seria sensacional ter todas as canções do mundo ali, disponíveis, como roupas num cabideiro, como livros numa estante. A vida era dura, décadas atrás. Se eu quisesse comprar um LP do Jam ou do Joy Division precisava percorrer as lojas alternativas do Centro, desembolsar algumas dezenas de dólares (era material raro, sempre importado)… Ou, como acontecia mais frequentemente, conseguir um conhecido disposto a copiar as canções numa fita cassete. Mas, quer saber? Havia nisso um quê de garimpo, de aventura, de conquista, e cada humilde aquisição era saboreada avidamente.
De modo parecido, eu fecho os olhos e brinco de reconstituir a textura, a acidez, as notas piscosas daquele trivial arenque do bistrô parisiense. Trata-se, aliás, de uma recordação que mencionei poucas vezes, para pouquíssima gente. E sobre a qual nunca comentei publicamente (agradeço a paciência de quem estiver lendo). E você? Consegue comer algo muito bom – estou falando de hoje, de agora – e não contar para ninguém? Como um prazer solitário, intransferível? Não é provocação nem vontade de soar anacrônico. É curiosidade, mesmo. Você resiste?
Luiz Américo Camargo é comentarista e consultor gastronômico, especializado em eventos e produção de conteúdo. Foi um dos fundadores do Paladar, marca de gastronomia de O Estado de S. Paulo. É também colunista do jornal Zero Hora.