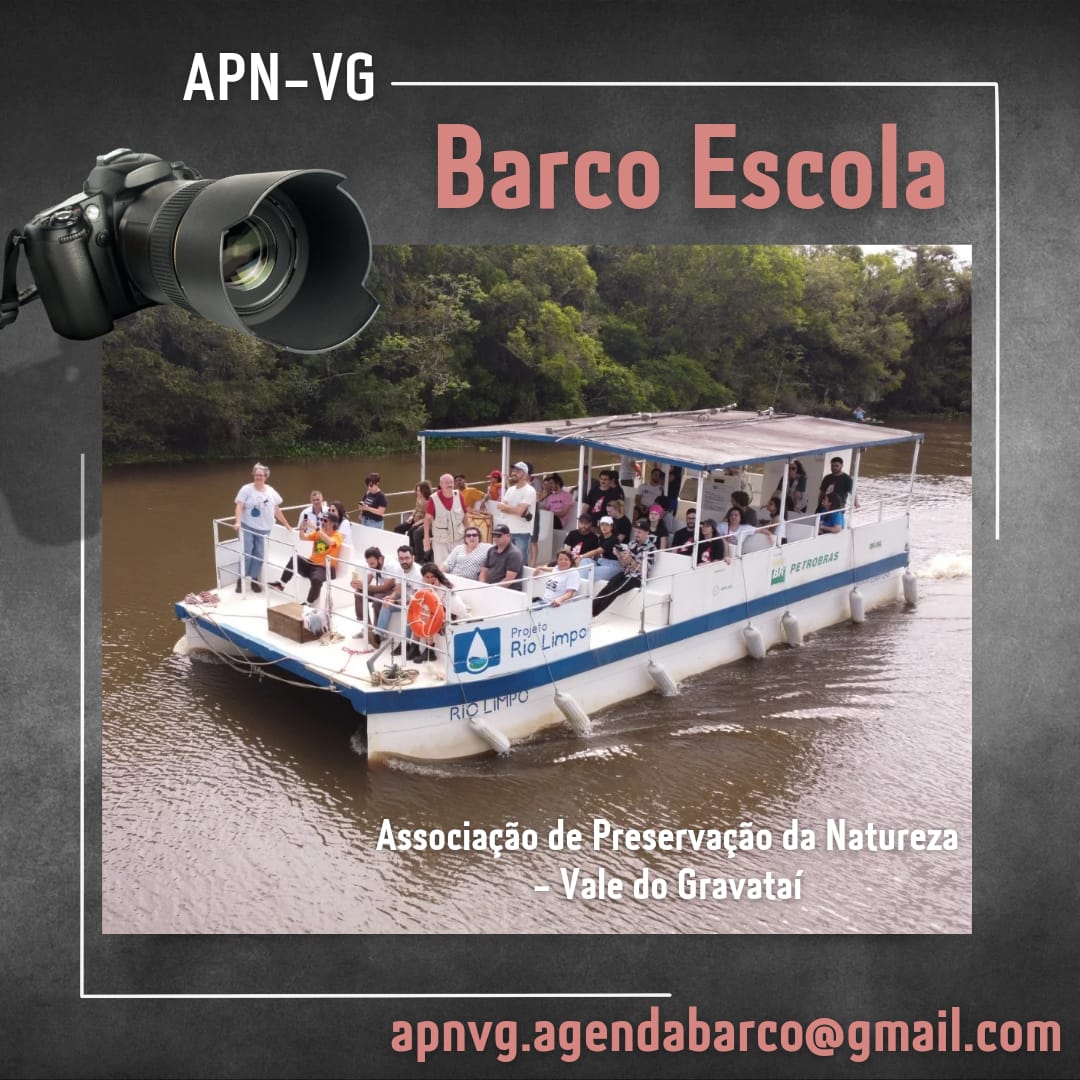A cultura sempre foi — e continua sendo — uma força revolucionária e transformadora. Ela não é neutra: carrega em si visões de mundo, disputas de valores e projetos de sociedade. Cada ação cultural, cada gesto criativo, é também um ato político, pois questiona, reafirma ou tensiona o modo como vivemos coletivamente.
Não é à toa que os artistas e fazedores de cultura — especialmente aqueles que atuam nas vilas, nos bairros periféricos e nos territórios marginalizados — são, historicamente, protagonistas em processos de mudança social. São eles que, com poucos recursos, mas com imensa potência criativa, transformam praças, ruas e galpões em palcos de resistência. Como dizia Paulo Freire, “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”. Os artistas das periferias são, hoje, guardiões desse gesto coletivo de libertação, pois nos ensinam que a arte nasce onde a vida pulsa com mais urgência.
Vivemos um tempo marcado pela pós-verdade, pelas fake news e pela barbárie política do ódio alimentado pela extrema direita. Nesse cenário, a cultura não apenas resiste: ela se converte em um dos últimos territórios de sanidade coletiva. A extrema direita tem se mostrado profundamente nociva à cultura, pois enxerga nela uma ameaça ao seu projeto de dominação. No Brasil, o exemplo mais brutal foi a extinção do Ministério da Cultura no governo Bolsonaro, um gesto simbólico e prático que representou a tentativa de reduzir a cultura a ornamento, sufocar a diversidade criativa e submeter a arte ao crivo da censura ideológica.
Mas o ataque à cultura não é uma invenção brasileira. Na história, regimes autoritários sempre trataram a produção cultural como inimiga a ser controlada ou destruída. Na Alemanha nazista, livros foram queimados em praças públicas porque contestavam a ideologia do regime. Na União Soviética stalinista, artistas eram perseguidos se ousassem questionar a versão oficial da história. Na ditadura militar brasileira (1964–1985), músicas foram censuradas, peças de teatro proibidas e artistas exilados. A cultura, nesses contextos, era vista como perigosa justamente porque revelava o que o poder tentava esconder: as contradições sociais e a luta por liberdade.
Hoje, a batalha cultural se dá em outro terreno: o da subjetividade. Como bem apontou Zygmunt Bauman, vivemos em uma “sociedade líquida”, marcada pela fluidez, pela fragilidade dos vínculos humanos e pela perda das referências sólidas de identidade. Isso significa que valores antes estáveis — comunidade, solidariedade, pertencimento — foram dissolvidos em um mercado que transforma tudo em mercadoria. Nesse processo, estamos perdendo nossas identidades locais, nossa memória coletiva, nossas raízes culturais. O folclore, as festas populares, os saberes tradicionais e até as narrativas de bairro ou de vila vão sendo substituídos por um consumo massificado, globalizado, sem rosto e sem alma.
Essa perda não é apenas simbólica: ela tem consequências profundas na vida das pessoas. Vivemos uma luta pela sanidade mental, pois a cultura líquida nos empurra para um vazio existencial. Há uma verdadeira distopia social em curso, marcada pela inversão de valores: o ódio é celebrado como coragem, a mentira é vendida como verdade, a ignorância é aplaudida como virtude. Como já alertava Hannah Arendt, em sua análise dos regimes totalitários, “a mentira organizada pode parecer mais plausível do que a realidade”, e é justamente a cultura — com sua força crítica e criadora — que pode nos devolver a capacidade de discernir, pensar e agir coletivamente.
Walter Benjamin, em suas “Teses sobre o conceito de história”, lembra que todo documento de cultura é também um documento de barbárie. Isso significa que cada obra carrega não apenas a genialidade humana, mas também a marca da exclusão, da opressão e da violência que a sociedade impõe. Quando um grupo de rap denuncia a violência policial nas periferias, ou quando um coletivo de teatro comunitário encena o cotidiano de quem sobrevive sem direitos, eles revelam tanto a criação quanto a barbárie. Mas é nesse gesto que reside a potência transformadora: ao expor as feridas, a cultura abre caminhos de cura e de libertação.
Bertolt Brecht nos advertia: “A arte não é um espelho para refletir a realidade, mas um martelo para moldá-la”. Por isso, não há neutralidade possível no campo cultural. O artista que se coloca ao lado da extrema direita, que serve ao projeto de censura, exclusão e ódio, trai sua própria missão criadora e pedagógica. Como diria Frantz Fanon, “cada geração deve, na relativa opacidade de sua época, descobrir sua missão, cumpri-la ou traí-la”. A missão dos artistas e fazedores de cultura é clara: resistir à barbárie, abrir horizontes, reinventar a esperança.
A cultura é trincheira e horizonte. Trincheira contra o autoritarismo, contra a ignorância, contra a perda de nossa humanidade. Horizonte porque nos aponta novos mundos possíveis, porque nos convoca a sonhar coletivamente, porque nos lembra, como dizia Antonio Gramsci, que “a indiferença é o peso morto da história”.
Por isso, defender a cultura e valorizar os artistas — sobretudo aqueles que, nas periferias, mantêm viva a chama da resistência criativa — é uma tarefa urgente. É escolha ética, política e civilizatória. Como diria Pablo Neruda, “a poesia é um ato de paz”. Mas, em tempos de ódio e mentira, ela é também um ato de insurgência.
A cultura é o que nos resta de humano em tempos de barbárie — e é, ao mesmo tempo, o que nos projeta para além dela.