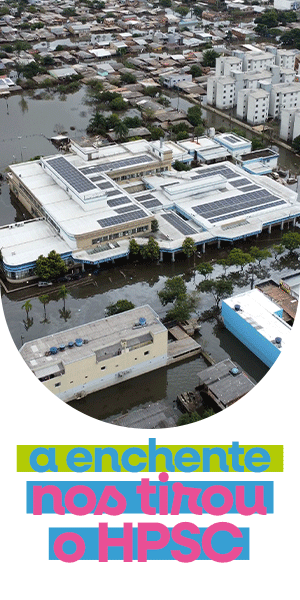Quando um relato ou uma recordação é construído não há como distinguir o verdadeiro do falso. Neste texto, o neurologista morto em 2015 escreveu sobre a falibilidade da memória no livro de ensaios publicado após sua morte. O Seguinte: reproduz o artigo publicado pelo El País
Fala-se muito em memórias recuperadas — memórias de experiências tão traumáticas que seriam reprimidas por defesa e então, com terapia, liberadas da repressão. Formas particularmente sinistras e fantásticas desse tipo de memórias incluem rituais satânicos de um tipo ou outro, acompanhados frequentemente por práticas sexuais coercivas. Vidas, famílias foram arruinadas por acusações nessa linha. No entanto, demonstrou-se que essas descrições, ao menos em alguns casos, podem ser insinuadas ou incutidas por outras pessoas. A combinação constante de uma testemunha sugestionável (frequentemente uma criança) com uma figura de autoridade (talvez um terapeuta, um professor, um assistente social ou um investigador) pode ser particularmente poderosa.
Da Inquisição e julgamentos das bruxas de Salem até os julgamentos soviéticos dos anos 1930 e a prisão de Abu Ghraib, variedades de “interrogatório extremo” com tortura física e mental direta foram usadas para extrair “confissões” religiosas ou políticas. Embora esses interrogatórios possam ter o objetivo de extrair informações, suas intenções mais profundas podem ser fazer uma lavagem cerebral, efetuar uma verdadeira mudança na mente, preenchê-la com memórias implantadas, autoincriminadoras — e nessa tarefa eles podem ser assustadoramente bem-sucedidos. (A parábola mais relevante aqui está em 1984, de Orwell, quando Winston, no fim, sob pressão insuportável, é vencido, trai Julia, trai a si mesmo e a todos os seus ideais, trai sua memória e seu julgamento também, e acaba por amar o Grande Irmão.)
Entretanto, pode não ser preciso uma sugestão forte ou coerciva para afetar as memórias de uma pessoa. Os depoimentos de testemunhas oculares são famigerados por estarem sujeitos a sugestão e erro, frequentemente com resultados terríveis para quem é acusado sem razão. Agora, com exames de DNA, em muitos casos é possível descobrir uma confirmação ou refutação objetiva desses testemunhos, e Schacter observou que “uma análise recente de quarenta casos nos quais evidências de DNA estabeleceram a inocência de indivíduos aprisionados injustamente revelou que 36 deles (90%) envolviam identificação equivocada feita por testemunhas oculares”.*
Nestas últimas décadas temos visto um surto ou ressurgimento de memórias ambíguas e síndromes de identidade, mas também a publicação de importantes estudos — forenses, teóricos e experimentais — sobre a maleabilidade da memória. Elizabeth Loftus, psicóloga e pesquisadora da memória, documentou um êxito inquietante em implantar falsas memórias pelo simples processo de sugerir a uma pessoa que ela vivenciou um acontecimento fictício. Esses pseudoeventos, inventados por psicólogos, podem variar desde incidentes cômicos até acontecimentos um tanto perturbadores (por exemplo, ter se perdido no shopping quando criança) ou mesmo incidentes mais graves (ter sido vítima de um ataque de animal ou de uma agressão séria por outra criança). Depois de um ceticismo inicial (“Nunca me perdi num shopping”) e então de incerteza, a pessoa pode passar a ter uma convicção tão intensa que continuará a insistir na verdade da memória implantada inclusive depois de o experimentador confessar que o episódio não aconteceu realmente.
O que é claro em todos esses casos — de abuso real ou imaginado na infância, de memórias genuínas ou implantadas, de testemunhas oculares equivocadas e prisioneiros que sofreram lavagem cerebral, de plágio inconsciente e falsas memórias que todos nós temos devido à atribuição incorreta ou confusão de fontes — é que, na ausência de confirmação externa, não existe um modo fácil de distinguir uma memória ou inspiração genuína, sentida como tal, daquelas que foram emprestadas ou sugeridas, entre o que Donald Spence chama de “verdade histórica” e “verdade narrativa”.
Mesmo se o mecanismo subjacente de uma falsa memória for exposto, como eu pude fazer com a ajuda de meu irmão no incidente da bomba incendiária (ou como Loftus fazia quando confessava aos participantes de seu experimento que suas memórias tinham sido implantadas), isso pode não alterar a sensação de experiência realmente vivida ou “realidade” que essas memórias geram. Tampouco, aliás, as óbvias contradições ou absurdos de certas memórias podem alterar o sentimento de convicção ou crença. Grande parte das pessoas que dizem ter sido abduzidas por extraterrestres não está mentindo quando fala sobre suas experiências, e também não está consciente de que inventou uma história — elas realmente acreditam que isso aconteceu. (Em A mente assombrada, explico como alucinações, sejam elas causadas por privação dos sentidos, exaustão ou várias doenças, podem ser confundidas com a realidade, em parte porque envolvem as mesmas vias sensoriais do cérebro usadas pelas percepções “reais”.)
Assim que uma história ou memória desse tipo é construída, acompanhada por imagens sensoriais vívidas e emoção forte, pode não haver um recurso interno, psicológico, para distinguir o verdadeiro do falso, nem algum modo neurológico externo. Os correlatos fisiológicos desse tipo de memória podem ser examinados com técnicas de imagem funcional do cérebro, as quais mostrarão que memórias vívidas produzem uma ativação cerebral disseminada envolvendo áreas sensoriais, emocionais (límbicas) e executivas (lobos frontais) — um padrão que é praticamente idêntico quer a memória se baseie em experiência, quer não.
Ao que parece, a mente ou o cérebro não possui um mecanismo para assegurar a verdade, ou pelo menos o caráter verídico das nossas recordações. Não temos acesso direto à verdade histórica, e o que sentimos ou afirmamos ser verdade (como Helen Keller estava em boa posição de observar) depende tanto da nossa imaginação como dos nossos sentidos. Não existe nenhum modo pelo qual acontecimentos do mundo possam ser transmitidos ou registrados diretamente no cérebro: eles são experimentados e construídos de um modo acentuadamente subjetivo, que, para começar, é diferente em cada indivíduo, e além disso são reinterpretados ou novamente experimentados de forma diferente toda vez que a pessoa os recorda. Nossa única verdade é a verdade narrativa, as histórias que contamos uns aos outros e a nós mesmos — as histórias que recategorizamos e refinamos continuamente. Essa subjetividade é embutida na própria natureza da memória e decorre de sua base e dos mecanismos que possuímos no cérebro. O espantoso é que aberrações muito gritantes sejam relativamente raras e que a maior parte das nossas memórias seja sólida e confiável.
Nós, seres humanos, somos donos de memórias que possuem falibilidades, fragilidades e imperfeições — mas também flexibilidade e criatividade imensas. Fazer confusão com fontes ou ser indiferente a elas pode ser uma vantagem paradoxal: se pudéssemos identificar as fontes de todos os nossos conhecimentos, acabaríamos atolados em informações, muitas delas irrelevantes. A indiferença a fontes nos permite assimilar o que lemos, o que nos dizem, o que outros falam, pensam, escrevem e pintam, de um modo tão intenso e rico como se fossem experiências primárias. Permite-nos ver e ouvir com outros olhos e ouvidos, entrar em outras mentes, assimilar a arte, a ciência, a religião da cultura como um todo, entrar na mente comum e contribuir para ela: uma comunidade geral de conhecimento. A memória surge não só da experiência, mas também da interação de muitas mentes.
*O filme O homem errado, de Hitchcock (o único filme de não ficção que ele dirigiu) documenta as medonhas consequências de uma identificação equivocada, feita com base em testemunha ocular (a “condução” de testemunhas, além de semelhanças fortuitas, tem no caso um papel fundamental).