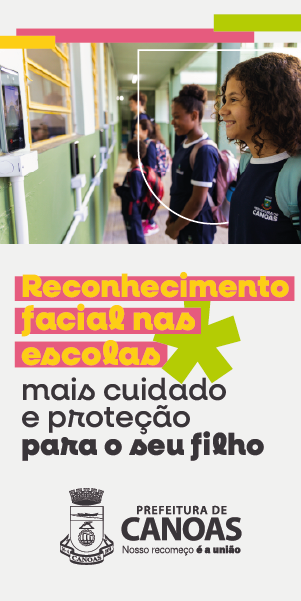As gerações anteriores foram criadas na repressão – e nós, sob a lógica do sempre-mais do sistema. Corpo e mente tornam-se zonas de sacrifício do capital. Remédios não aliviarão a dor: é preciso resgatar o desejo. Recomendamos o artigo do jornalista Amador Fernández-Savater, publicado no CTXT e traduzido por Rôney Rodrigues para o Outras Palavras
A verdadeira catástrofe é que tudo permanece igual.
(Valter Benjamim)
Uma menina salta no vazio do décimo segundo andar da Faculdade de Geografia e História da Universidade Complutense de Madrid. O reitor decide continuar as aulas como se nada tivesse acontecido, supostamente aconselhado por uma equipe de psicólogos. Eles dissertam e tomam notas enquanto o corpo da menina é levado. Seus colegas e demais alunos protestam, conseguindo interromper o silêncio.
Quem pensa que o melhor, quando algo assim acontece, é reproduzir a normalidade e não falar? Negar a palavra, o intercâmbio de palavras, é justamente a única coisa que pode curar algo, como sabemos desde Freud. Aquela menina decidiu tirar a vida logo pela manhã no local onde estudava, por acaso não há a se pensar sobre isso? Continuar igual é não responder de forma alguma ao seu gesto. Não acolher-lha de nenhuma forma. Reduzi-la a nada pela segunda vez.
Estive na Faculdade de Geografia e História durante muitos anos como estudante, mas não me lembro de nada parecido. Os tempos mudaram muito desde então, de forma rápida e imperceptível. A pressão neoliberal em torno do desempenho transformou profundamente as nossas sociedades. Adolescentes e jovens hoje falam de sintomas, medicamentos e terapias com total desenvoltura, assim como em outros tempos falávamos de maconha, motos e bebidas.
A normalidade não é um refúgio que deva ser protegido, mas sim o ninho da cobra. Algo que precisa ser questionado e pensado radicalmente. Infelizmente, a “negação” de tudo o que é disruptivo, de sinais de danos psicológicos, sociais ou ambientais, não é apenas um atributo da extrema direita, mas é transversal a todas as ideologias políticas. Uma questão de sensibilidade, não de ideias.
Aprenderemos a ver e ler esses sinais? A parar o maldito “não é nada, não” da normalidade mortífera para pensarmos juntos e assumirmos o controle?
Economia política da agitação
Precisamos mudar o mundo, não ser medicados para suportá-lo.
(Grafite)
Os chamados problemas de saúde mental ultrapassaram a barreira do som com a pandemia e passaram a ser publicamente audíveis na sociedade. Durante muitos anos, diferentes autores, grupos e movimentos pensaram na extensão do desconforto psíquico e anímico paralelo à transformação neoliberal do mundo, soando assim o alarme. Agora foi criado um novo cargo no Ministério da Saúde, o de Secretário de Saúde Mental, com o objetivo de “reduzir o sofrimento na sociedade”.
As declarações de Belén González, a primeira secretária, impressionam. Pelo que aponta e por sua análise. Onde só se veem problemas de saúde mental, ela nos convida a pensar numa questão política e social. É uma mudança decisiva de olhar. O que é rotulado como desconforto psicológico está relacionado a precarização da moradia e do trabalho, dos vínculos e dos afetos, da própria existência.
O vínculo com o outro é frágil ou rompido, as comunidades de vizinhança ou de trabalho quase não existem. Sem comunidade a quem recorrer, se vai ao médico. O mal-estar fala a linguagem da saúde mental porque é a única forma legítima de se expressar, de obter uma licença médica, de ser ouvido e levado em consideração. Mas o que se apresenta como um caso de estresse ou ansiedade tem muito a ver com um chefe filho da puta ou com o trabalho diário em um porão sombrio.
O problema é que a linguagem médica individualiza e despolitiza o que é comum e coletivo. Tenta resolver através do diagnóstico e da medicação o que exigiria uma transformação social das estruturas sociais. Bloqueia a escuta singular ao mal-estar (e ao tratamento específico) por meio de categorias e soluções a priori.
O desconforto não é algo que deva ser “curado” às pressas e a todo custo, mas antes de tudo interrogado. Não se trata simplesmente de contê-lo ou aliviá-lo, mas de ouvi-lo e acompanhá-lo. Porque o desconforto fala, fala com a gente, está nos falando da necessidade de mudar as condições de vida. É o sinal de que algo não vai bem na organização da vida coletiva.
“Não é depressão, mas deserção”, diz Franco Berardi (Bifo). O que é classificado como problema de saúde mental é um protesto silencioso contra o estado das coisas. Não estamos deprimidos, mas em greve. Um novo tipo greve, a existencial, a humana, que ainda não encontrou a sua forma política, o seu modo de ser partilhada.
A medicalização da sociedade terapêutica bloqueia a questão. Bloqueia o pensamento. Bloqueia a ação. É um “como se nada tivesse acontecendo” das autoridades universitárias em relação ao caso de suicídio, mas com linguagem diferente.
Economia libidinal do desconforto
O que temos para curar? Não sei exatamente, mas pelo menos isso
em primeiro lugar: a doença de querer curar.
(Jean-François Lyotard)
As abordagens de Belén González, que são retomadas por outros como aquelas que Guillermo Rendueles expõe há décadas, parecem-me impecáveis em termos de “economia política”: a precariedade, a exploração e a resultante atomização social como causas objetivas do sofrimento.
Proponho agora complementar esta abordagem com uma análise “na economia libidinal”. O que significa isto? Pensar a dimensão desejante, psíquica e anímica da nossa sociedade. Perguntar-nos sobre a relação entre capitalismo e desejo. As causas subjetivas do desconforto.
Como as coisas aparecem, como experimentamos a vida, o que nos faz vibrar? O desconforto também tem a ver com a relação com o mundo. Com a internalização da lógica de desempenho e competitividade. Não somos apenas vítimas passivas ou inocentes da vida de mercado, mas também os seus agentes ativos e, inclusive, entusiastas.
Hoje o mandato da produtividade passa para dentro. Dentro do quê? De nós mesmos. Cada um reproduz o sistema que nos prejudica tomando-se como capital humano a ser gerido: capital-corpo, capital-erótico, capital-imagem, capital-visibilidade, capital-relacionamento, capital-contato, capital-projeto, capital-ideias. capital-saúde e capital-capacidades.
A pressão por desempenho e competição nos faz vibrar. A demanda por hipercomunicação e hiperexpressividade encontra eco em nós. O mandato de produtividade é apoiado pelos nossos ideais de perfeição e controle, em nossos ideias de eu. É por isso que também existem pessoas com bons salários que sofrem psicológica e animicamente, como analisa David Graeber em seu Trabalho de Merda.
O movimento do capital, tal como analisa Marx, busca sempre a expansão: sempre mais produtividade, desempenho e competitividade, independentemente do bem-estar, da satisfação e da felicidade dos sujeitos. Nesta lógica autônoma, os territórios, os recursos e as populações surgem como imensas zonas de sacrifício. Zonas a serem devastadas e consumidas para a grande glória do insaciável imperativo do lucro.
Nós mesmos, quando nos identificamos intimamente com o capital, também obedecemos a essa lógica do sempre mais. E o nosso próprio corpo aparece então como uma zona de sacrifício. Sacrifício de vínculos e afetos, de satisfação e felicidade, de descanso e descanso na busca insensata do lucro, da exigência e da autoexigência, da culpa e da dívida.
Nossos pais e avós sacrificaram os seus corpos através de repressão disciplinadora e autoritária. Hoje fazemos isso através da mobilização total, otimização e maximização, da gestão empresarial de si mesmo e da marca pessoal. Uma renúncia ao corpo – às suas próprias inclinações, ritmos e altos e baixos – não mais através da repressão e negação, mas através da aceleração e do autoaperfeiçoamento permanente. O ginásio envidraçado como novo altar público da lógica sacrificial.
É ridículo considerar a nossa sociedade como “hedonista” quando se ignora totalmente o prazer como uma gratificação e recompensa que se basta em si mesma. O consumo – único gozo conhecido – é a compensação de uma vida amputada, sem projeto ou sentido próprio, sujeita ao desejo do Outro, ao imperativo do desempenho e da competitividade. Uma compensação que, como bem sabemos por experiência, não acalma, não apazígua nem sacia nada. A insatisfação é estrutural. Um poço sem fundo.
Politizar a agitação
Para acabar com o massacre do corpo
(Félix Guattari)
Como desatar o nó da produtividade? Como deixamos de nos identificar e de vibrar com os imperativos do sempre-mais? Como sair da lógica do sacrifício?
Desatar o nó da produtividade depende da melhoria das condições objectivas: salários e renda, condições e espaços de trabalho, tempo e recursos. Mas também depende de uma mutação do desejo. Primeiro um desapego do mandato do desempenho, depois a inauguração de uma outra relação com o mundo, uma nova experiência de vida.
Teríamos que pensar novamente em Marx com Freud, Freud com Marx, e retomar o diálogo entre política e psicanálise. Sem Marx, sem críticas à economia política e às lutas sociais, a psicanálise torna-se adaptativa: a minimização dos danos através da aprendizagem pessoal de uma outra relação com o mundo. Sem Freud, sem a crítica à economia libidinal e às lutas do desejo, a política acaba por prescindir dos sujeitos e regressar ao ponto de partida, incapaz de uma mudança qualitativa.
Politizar o mal-estar é uma bela consigna, mas um caminho difícil. O mal-estar é íntimo e comum. A pressão pelo desempenho está inscrita em cada corpo de forma diferente, dependendo da sua história particular, da sua biografia psíquica, das suas feridas e cicatrizes pessoais. A “classe” dos sintomáticos nunca existirá como um bloco homogêneo e identitário, apenas como uma teia complexa de corpos e vozes singulares. Uma conversa entre diferentes, uma configuração de únicos, uma banda de solistas.
Freud chamou de “sublimação” o saber-fazer com os mal-estares íntimos. Em vez de padecer isoladamente, ser capaz de criar algo comum e compartilhado a partir disso (uma obra de arte, por exemplo). Mas ele se equivocou ao atribuir essa faculdade apenas a alguns artistas brilhantes. Qualquer pessoa pode, e também em coletivo. É possível pensar a politização do mal-estar como um trabalho de sublimação ao mesmo tempo íntimo e comum: sair do sofrimento individual, encontrar e elaborar o desconforto como energia de transformação.
Politizar o mal-estar começa com uma pergunta: o que está acontecendo (com a gente)? Uma questão que interrompe os automatismos, antes de mais o automatismo do silêncio, a normalidade onde reside o mandato da produtividade e da competição. E continua com uma conversa, um espaço-tempo de elaboração coletiva a partir do mais singular e do mais pessoal, a partir do corpo e da vida danificados. Para ler os sinais juntos e assumir o controle.