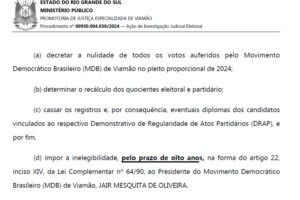A classe média progressista precisa compreender que, sem enfrentar o racismo estrutural do Brasil, não há “pacto civilizatório” possível nem há democracia. O Seguinte: reproduz o artigo de Eliane Brum, publicado no El País
Há um apagão nos dois principais manifestos que moveram o Brasil nas últimas semanas. Uma ausência que revela: 1) a qualidade da democracia que conseguimos ter após o fim da ditadura militar; 2) a dificuldade das elites (majoritariamente brancas) reconhecerem o racismo estrutural como o principal problema do país; 3) a impossibilidade de enfrentar o autoritarismo representado pelo Governo de Jair Bolsonaro sem colocar no topo da lista o enfrentamento ao racismo. Sem exterminar o racismo não há democracia. Nem há projeto civilizatório possível. Essa não é uma questão para decidir depois. Este é justamente o agora.
Para esclarecer já no início. Não me alinho a Lula (PT), que fez o desserviço de não apoiar os manifestos suprapartidários porque estaria ao lado de pessoas que ou apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff (PT) ou não lamentaram a sua prisão. Assinei o “Estamos Juntos” com pessoas que admiro muito, com quem compartilho sonhos e visões políticas, e outras que considero terem feito muito mal ao país, algumas delas me atacaram pessoalmente não muito tempo atrás. Numa frente ampla, a gente engole os sapos, segura as tripas e fecha com a única parte que todos concordam, a de lutar pela democracia. Como tantos disseram e escreveram, depois, com o processo democrático já garantido, discute-se as diferenças democraticamente. E elas são enormes, posso assegurar.
O problema é que, ao observar os textos do “Estamos Juntos” e do “Basta!”, percebe-se que há algo que não está lá e que não dá para discutir mais tarde. E este algo é o racismo. Textos de manifestos são textos de consenso, e é exercício da melhor política buscar esse consenso. Chegar à formulação divulgada certamente exigiu muito esforço e trabalho dos articuladores. Que a palavra racismo não esteja bem no alto é sinal justamente da deformação da democracia que conseguimos construir após 1985. Se isso não ficar bem compreendido neste momento, seguiremos às voltas com os déspotas da ocasião.
O que deve nos assombrar, e imediatamente nos fazer despertar, é o fato de que o enfrentamento do racismo, a esta altura, ainda não seja um consenso entre aqueles que defendem a democracia. Ainda não esteja dentro do amplo guarda-chuva de uma frente ampla suprapartidária como uma obviedade do mesmo nível de dizer que defendemos a liberdade, por exemplo. Não estou aqui jogando pedras em quem está se movendo, muito pelo contrário. Minha crítica reivindica uma mudança de rota nos movimentos de resistência ao autoritarismo liderados pela classe média progressista, autoritarismo representado por Bolsonaro, pelos generais e pela miliciarização das polícias.
O racismo é o debate inadiável não só no Brasil, mas no mundo, como os protestos nos Estados Unidos têm mostrado. O Brasil, porém, tem uma tarefa maior do que a maioria dos países porque não só foi o último país das Américas a abolir a escravidão como a fez sem nenhuma política pública de inclusão dos negros na sociedade. O racismo estrutural se manteve e, hoje, mais de 130 anos depois, os negros ocupam um lugar subalterno na sociedade em todas as áreas e morrem mais e mais cedo. Que o grito contra o racismo tenha se unido ao grito pela democracia nos protestos de rua, que não tiveram o apoio nem da maioria da classe média nem da maioria dos partidos nem dos articuladores dos principais manifestos, é bastante ilustrativo.
O argumento de evitar aglomerações devido à pandemia é totalmente respeitável ― e deve ser respeitado. Deixar de ir às ruas por temer se contaminar com covid-19 e, contaminando-se, contaminar os mais frágeis, é gesto de responsabilidade e faz todo o sentido. Afinal, até semanas atrás, ocupar as ruas e aglomerar-se numa pandemia era ato exclusivo de Bolsonaro e dos extremistas de direita, os que usam símbolos neonazistas, os amantes de armas, os antidemocratas e os defensores do autoritarismo. Ficar em casa significava, no contexto, não só cumprir as normas sanitárias determinadas pela Organização Mundial da Saúde mas também um gesto político de resistência.
A questão é que a realidade é sempre muito mais desafiadora e complexa. Ficar em casa tornou-se também uma questão política, atravessada pela desigualdade racial. Como são majoritariamente os brancos, de classe média para cima, que tem o privilégio de poder ficar em casa para se proteger do novo coronavírus, e muitos deles obrigam seus empregados a trabalhar em suas casas, não há como desconectar os protestos de rua contra o fascismo representado por Bolsonaro da desigualdade racial que impede uma parte da população, a mais pobre, majoritariamente negra, de permanecer em casa.
Essa foi a fala dos jovens negros, das jovens negras que foram às ruas, e também dos brancos e brancas que participaram da manifestação. “Tenho mais medo do racismo do que da pandemia. Obviamente o coronavírus mata, mas o racismo é muito cruel”, explicou Julia, uma jovem negra da zona sul de São Paulo que aderiu ao protesto do domingo (7/6), ao EL PAÍS. “O que adianta ficar em casa se a maior parte da população negra não esta podendo ficar em quarentena?”, justificou Tânia Aquino. Uma das lideranças declarou no carro de som: “A democracia nunca existiu. O racismo faz parte do DNA do branco, vocês são criminosos […] Agora é hora de a pretitude tomar conta”.
Reproduzo aqui parte do melhor texto que li sobre esse impasse, de autoria do cientista social negro Deivison Mendes Faustino: “Nós, aqueles a quem não foi permitido ficar em casa, seguros/as, esperando a crise passar; Nós, que seguimos em risco: amontoados nos transportes coletivos, entregando o seu delivery ou garantindo as suas futilidades básicas; aqueles que presenciaram os filhos serem mortos pela polícia, em casa ou na casa da patroa, enquanto levávamos o seu pet para passear; Nós, a quem fizeram escolher entre a morte, sem ar, pela covid-19, ou a vida sem fôlego, por medo da fome, da violência e do desamparo; Nós, os que morrem 40% mais por corona, os 70% mais assassinados pela polícia, mas cuja representação política e poder efetivo junto aos ‘70%’ que se pretendem oposição à tragédia atual, é ínfima; Nós, enfermeiras, faxineiras, seguranças, carteiros, diaristas, ubers, entregadores, estudantes, mães e pais de filhos pretos, veados, sapatões, não binários, ou os/as militantes verdadeiros que seguem nas ruas coletando e entregando mantimentos, ajudando o velório de famílias vitimadas pela conjuntura genocida; Nós, aqueles que não podem mais respirar, há 500 anos, mas que sentimos aumentar sob o nosso pescoço o joelho militarizado do poder, cada vez mais, assumidamente genocida; Nós, que assistimos há décadas, a indignação performática, da maior parte da esquerda e de uma parcela da direita, acompanhada da negligência em relação ao racismo de lá ou de cá; Nós, diante da chance real de velar a nossa própria quase-morte, em um protesto vivo, nas ruas, neste domingo… estamos com receio: de um lado, o risco do protesto físico facilitar a exposição à covid-19… do outro lado, a ameaça real de criminalização da luta por justiça… (…) Ainda assim, uma parte de Nós, marchará neste domingo, junto com outros movimentos sociais, não por estarmos dormindo no barulho, mas por entendermos ser essa a Nossa tarefa histórica. Marcharemos por estamos cansados de ficar na arquibancada de um jogo político que nos afeta diretamente. Marcharemos porque não podemos mais respirar!”. (leia o texto inteiro aqui)
Respirar tornou-se um ato político, sua negação um gesto da desigualdade racial. Aos negros lhes falta o ar ― pelos joelhos brancos no seu pescoço, pela covid-19 que os mata mais, pela precarização da vida, pela violência da morte, pelo lugar subalterno reservado à maioria racial do país pela minoria branca. A tensão dentro do campo democrático, entre aqueles que defendiam ir para a rua e aqueles que eram contra ir para a rua, foi ― e é ― atravessada pelo racismo. Porque não se escapa do racismo no Brasil (leia “No Brasil, o melhor branco só consegue ser um bom sinhozinho).
Dizem que o vírus escancarou a brutal desigualdade social do Brasil. Essa afirmação, porém, não faz sentido. A desigualdades sempre foi escancarada. O que aconteceu com o coronavírus é que os negros e os indígenas não têm permitido que ela siga normalizada neste momento. E têm apontado, muito enfaticamente, que a desigualdade no Brasil é racial.
Ao definir o social como preponderante, neste caso há um encobrimento da ferida, na medida que a maioria dos pobres é preta. Ou seja, a pobreza tem cor. Do mesmo modo, vários projetos de expropriação das terras indígenas apontam para a conversão de indígenas em pobres urbanos, o que os lançaria na falsa homogeneidade sem cor e sem história do vasto guarda-chuva dos “pobres”. Pobres, é necessário deixar explícito, é um conceito genérico usado politicamente à esquerda e à direita para promover apagões de memórias e de identidades.
O apagão dos dois principais manifestos contra o autoritarismo é resultado do racismo estrutural que foi mantido pela democracia. O Brasil não julgou os crimes da ditadura, provocando o que, na coluna anterior, eu chamei de “fetiche da farda”: fenômeno que faz o país tremer com a opinião de cada general de pantufa que arrota do seu sofá e faz com que os generais no governo sintam-se à vontade para fazer declarações antidemocráticas e ameaças às instituições. Como seus antecessores lideraram um regime que autorizava o sequestro, a tortura e a execução de opositores políticos e nunca foram responsabilizados pelos seus atos criminosos, tanto Jair Bolsonaro, o militar que planejou colocar bombas nos quartéis nos anos 1980, quanto seu círculo verde-oliva têm a certeza da impunidade. E esta é a impunidade que fez ― e faz ― mais mal à democracia brasileira.
A questão, porém, é que, durante a democracia, uma parte da classe média enfrentou a impunidade dos militares e dos agentes de Estado. Com muita dificuldade, ainda foi possível fazer uma Comissão Nacional da Verdade para apurar os crimes cometidos pelos agentes do regime de exceção. Entidades importantes, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tentaram e tentam reformar a Lei da Anistia, de 1979. Uma parte das elites lembra, com alguma frequência, que crimes contra a humanidade, casos das violações praticadas por agentes do Estado a serviço da ditadura, são imprescritíveis e não estão sujeitos a anistias.
Mas há um porém. O processo democrático e seus principais agentes, a maioria deles de classe média branca, enfrentaram muito menos os crimes e a desigualdade resultantes do racismo. O racismo seguiu normalizado na construção da Nova República. A sociedade continuou compactuando com as torturas dos que são erroneamente chamados de “presos comuns” nas delegacias de polícia e nas prisões, a maioria deles pretos; com a invasão ilegal das casas do mais pobres pela polícia, a maioria deles pretos; com as condições incompatíveis com qualquer conceito de dignidade das prisões abarrotadas, majoritariamente por pretos; com as leis que lançam pequenos traficantes de drogas nestas prisões, a maioria deles pretos, e absolve os consumidores, a maioria deles brancos; e, finalmente, com o genocídio da juventude negra nas periferias e favelas.
O processo democrático e seus principais agentes não enfrentaram o racismo estrutural com a urgência que essa abominação exige. No pouco que foi feito, como na questão das cotas raciais nas universidades, houve gritaria da classe média branca, que se sentiu insultada ao perder um privilégio que confundia com direito. Para combater uma das primeiras e atrasadas políticas públicas para a inclusão dos negros na sociedade, fortaleceu a vergonhosa tese da meritocracia, como se todos, brancos e negros, partissem de bases semelhantes para disputar espaços em igualdade de condições.
Tudo isso tem consequências, obviamente. E tem consequências para a democracia, que assim jamais se completa, fragilizando-se aos autoritários de tocaia. Uma parte significativa da população têm pouca relação com a democracia porque não consegue perceber que faça grande diferença na sua vida. Não é porque são ignorantes e porque desconhecem a história. Ao contrário, eles vivem a história no cotidiano. A Polícia Militar segue lá, derrubando portas e explodindo as cabeças das suas crianças ou abatendo-as pelas costas. Seus queridos estão em prisões descritas por um ex-ministro da Justiça como “medievais”, muitas vezes sem julgamento ou porque foram pegos com 100 gramas de maconha. E, na pandemia de covid-19, eles nem têm casas que permitem o isolamento nem têm condições de parar de trabalhar nas ruas, caso dos informais, nem seus patrões brancos permitem que façam confinamento, caso da minoria empregada.
Bolsonaro, assumidamente racista em suas declarações, disse para essa população algo que nenhum branco com responsabilidade pública tinha tido a coragem de dizer antes dele: “e daí?”. A vida cotidiana no Brasil lança um grande “e daí?” sobre os negros, cuja existência é marcada por menos tudo o que é da vida e por mais mortes por doença, bala e descaso há pelo menos quatro séculos. Se são os pretos que proporcionalmente morrem mais ao contrair a covid-19 e se são os pretos os mais expostos ao novo coronavírus, porém, o “e daí?” de Bolsonaro formalizou o racismo como política de Estado e lançou a pandemia, já totalmente atravessada pela desigualdade racial, diretamente no coração da disputa política que se dá em torno da democracia.
O movimento de rua iniciado pelas torcidas de futebol, algumas delas, como a Gaviões da Fiel (Corinthians), criadas no combate à ditadura, apontam que a denúncia do racismo é que leva à luta pela democracia com apoio popular, neste momento. E não o contrário. Se a classe média progressista não compreender isso, rapidamente, estará fora da centralidade do momento. E, mais uma vez, defenderá uma democracia que nega a si mesma, ao ignorar os negros, quase 56% da população brasileira, condenados aos porões da sociedade, em todas as áreas, depois de mais de três décadas de democracia formal.
Não por acaso, entre os manifestos lançados que encontraram ressonância, o mais contundente na posição antirracista é o do “Esporte pela democracia”, ao repudiar com veemência o racismo em pelo menos três partes do texto. “A banalização da vida negra soma historicamente milhares e milhares de mortos por violência, discriminação, práticas racistas diárias bem diante dos nossos olhos”, afirma. “Pelo nosso repúdio integral ao racismo, à violência, e nosso desejo de voltar a crer num futuro possível e igualitário, hoje nos colocamos diante de questões políticas importantes. Como representar um país em que práticas autoritárias se tornam cotidianas? Em que a diversidade cultural, uma de nossas maiores riquezas, é frontalmente atacada? Como nos comportar diante do que temos vivido nos últimos tempos, da triste imagem nacional passada para o mundo? Queremos voltar a nos sentir orgulhosos de nosso país, representando em Copas do Mundo, Olimpíadas e outras competições internacionais o legado de nossa cultura, nossa história, nosso povo”.
O crescente autoritarismo do Brasil atual ― no qual Bolsonaro pode ser o ápice mas não é de forma nenhuma a origem ― dificultou mas não conseguiu interromper o movimento de pressão dos negros por protagonismo e espaços de poder. O Brasil estava no início de um debate que previa não apenas enfrentar os crimes da ditadura, mas também enfrentar as violações normalizadas no processo democrático. Ações como a criação da Comissão da Verdade sobre os Crimes da Democracia Mães de Maio, lançada em 2015 por vários movimentos de São Paulo, marcavam essa nova fase da democracia que o conservadorismo tradicional tentou interromper. Tentou interromper e, no processo, foi parte absorvido, parte atropelado pelo bolsonarismo. Marielle Franco encarnava essa irrupção das minorias que são maiorias – e foi silenciada a tiros.
A repressão a essas forças emergentes tem sido brutal, mas até esse momento não foi capaz de interrompê-las. É isso que os movimentos de rua estão mostrando, desde as campanhas de solidariedade e combate à pandemia, na base do “nós por nós”, promovidas pelos movimentos nas comunidades periféricas, até os recentes protestos de rua iniciados pelas torcidas de futebol, com o apoio no último domingo (7/6) de setores populares importantes como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e coletivos da população negra. Talvez o que a classe média progressista branca precise entender neste momento é que precisará seguir ― e não ser seguida.
O racismo estrutural do Brasil é tão explícito que a realidade o desenha com sangue. João Pedro, de 14 anos, estava dentro da casa dos tios, em 18 de maio, quando foi morto pelas costas pela polícia que invadiu a residência em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Seria mais do que suficiente para negros ― e também brancos ― se insurgirem com tanta força quanto a demonstrada pelos afroamericanos após a morte de George Floyd, nos oito minutos e 46 segundos que durou sua asfixia por um joelho branco.
O imperativo de se insurgir contra o racismo é de todos, brancos e pretos, direita e esquerda. O racismo é limite insuperável. Não há como afirmar que o Brasil é uma democracia quando a polícia invade uma casa e mata uma criança. No Brasil, Floyd não seria exceção, João Pedro não é exceção. Essa normalização é o crime além do crime. E deste todos são cúmplices.
E então, Miguel Otávio, de cinco anos, foi assassinado num prédio de luxo no Recife, em 2 de junho. É uma cena de Casa Grande e Senzala no século 21. A mãe preta, Mirtes Renata Souza, é obrigada a trabalhar na casa da patroa branca, em plena pandemia. Leva o filho, porque as escolas estão fechadas por causa da covid-19. A patroa, Sari Corte Real, primeira-dama do município de Tamandaré, manda que ela vá passear com o cachorro. Com o cachorro. Ela então deixa seu menino de cinco anos com a patroa. Mas a criança chora porque está assustada e quer ficar com a mãe, que avista pela janela passeando com o cachorro. Com o cachorro. A patroa está ocupada com a manicure, e o menino a está perturbando. Ela então o despacha sozinho no elevador. No elevador de serviço. Ele não sabe o que fazer nem como chegar até a mãe. Então desce quando a porta abre no nono andar. Escala as grades que protegem os equipamentos de ar condicionado e cai de uma altura de 35 metros. Miguel Otávio alcança a mãe. Morto. A patroa é presa, mas paga 20 mil reais de fiança e volta para casa.
A jornalista Joana Rozowykwiat desenhou em seu Facebook:
“O horror que é a morte do menino Miguel é a história com mais símbolos de que eu tenho lembrança:
A empregada que trabalha durante a pandemia;
A empregada que não tem com quem deixar o filho;
A empregada é negra;
A patroa é loura;
A patroa é casada com um prefeito;
O prefeito tem uma residência em outro município, que não é o que governa;
A patroa tem um cachorro, mas não leva ele pra passear, delega;
A patroa está fazendo as unhas em plena pandemia, expondo outra trabalhadora; A patroa despacha sem remorso o menino no elevador;
O menino se chama Miguel, nome de anjo;
O sobrenome da patroa é Corte Real;
A empregada pegou covid com o patrão;
A empregada consta como funcionária da Prefeitura de Tamandaré;
Tudo isso acontece nas torres gêmeas, ícone do processo e verticalização desenfreada, especulação imobiliária e segregação da cidade do Recife;
Tudo isso acontece em meio aos protestos Vidas Negras Importam;
Tudo isso acontece no dia em que se completaram cinco anos da sanção da lei que regulamentou o trabalho doméstico no Brasil;
É muita coisa, muito símbolo”.
É mesmo muita coisa e muito símbolo.
E aí alguém diz, com genuína preocupação e muita razão, que não dá para ir para as ruas protestar numa pandemia. E esta exatamente seria a razão pela qual a mãe de Miguel Otávio não deveria estar trabalhando naquele dia. Só que este é o país da desrazão, este é o país em que uma mulher negra arrisca a sua vida para passear o cachorro da madame branca, este é o país liderado ― e representado ― pelo “e daí?” de Bolsonaro. Este é o Brasil que lidera o número de mortes pela covid-19 porque o antipresidente decidiu que é natural que uma parte da população morra mesmo. Mas os negros e os indígenas sabem que parte da população é esta, a que sempre pôde morrer na visão da parcela do Brasil que Bolsonaro representa.
Se neste momento há consenso entre os progressistas de que Bolsonaro é “uma ameaça à civilização”, é urgente compreender que, caso se trate mesmo de “civilizar” o Brasil, é imperativo exterminar o racismo. No Brasil, a barbárie tem sido a dos brancos contra os negros e contra os indígenas. Bolsonaro a exalta, mas não a inventou. Achar que dá para ter democracia com racismo é um delírio persistente de uma parcela dos brasileiros.
Por enquanto, é a juventude preta periférica politizada que está mais presente nas ruas lutando contra o fascismo/racismo. O que todos os sinais estão apontando é que, desta vez, o racismo não será silenciado na disputa política em torno da democracia. Pode até acontecer um movimento aos moldes das “Diretas Já”, que marcaram o começo do fim da ditadura militar, liderado pelos progressistas brancos de classe média, em que o racismo seja só uma nota de rodapé na luta pela destituição do maníaco do Planalto e pela restituição da democracia hoje em frangalhos. Neste caso, não será então apenas uma oportunidade histórica perdida. Será muito mais. Será uma vergonha histórica.
O novo Diretas Já (e já com outro nome), nascido nas periferias que reivindicam seu legítimo e real lugar de centros, colocado em curso por movimentos sociais e coletivos, e não mais por partidos políticos, ou será com os negros ― ou não será.