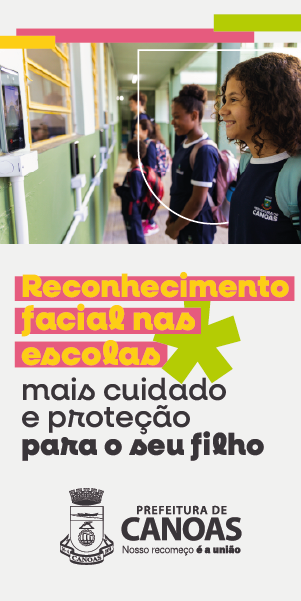O Seguinte: reproduz o artigo de Fabio Bortolazzo Pinto, professor e revisor, mestre em literatura e doutor em comunicação, publicado pelo Matinal Jornalismo
José Mojica Marins, diretor e ator de cinema brasileiro, faleceu no último dia 19, aos 83 anos. Neto de imigrantes espanhóis, nasceu em São Paulo, numa sexta feira 13, em março de 1936. Deixou sua marca na cultura nacional ao inventar, no início dos anos 1960, um personagem e um gênero. Artista multimídia desinibido como poucos, apavorou multidões de espectadores na pele de Zé do Caixão, o coveiro sádico, de unhas enormes, vestido de preto da cartola aos sapatos. Zé também foi estrela de comerciais, virou marca de cachaça, de esmalte, modelo de carro, foi repórter de jornal e apresentador de tevê, gravou sambas e, certa ocasião, quase virou deputado.
Quem nasceu nos anos 60 e adolesceu nos 70 há de lembrar, por exemplo, da capa do disco A peleja do diabo com o dono do céu, de 1979, onde Zé do Caixão ameaça outro Zé, o Ramalho, juntamente com Satã, seu guarda-costas, a atriz Xuxa Lopes e ninguém menos que Hélio Oiticica, de parangolé e tudo. Quem anda pela casa dos cinquenta talvez também tenha visto imagens dos então famosos testes de elenco a que eram submetidos operários, motoristas, faxineiras, secretárias, modelos, vendedores ambulantes e desocupados em geral, que sonhavam com um papel nos filmes de Mojica. Nesses testes, as candidatas e candidatos à fama tinham de aguentar passeios de aranhas caranguejeiras, cobras e baratas pelo corpo, além de choques elétricos e horas dentro de caixões fechados. Nada comparado, claro, ao que acontecia, na mesma época, em porões clandestinos e delegacias brasileiras.
Mojica contava que o personagem nasceu em 1963, depois de um pesadelo em que uma sinistra figura toda vestida de preto o arrastava até o túmulo. Quando despertou, viu-se metamorfoseado em cineasta de terror. Até então tinha feito um faroeste e um melodrama nos quais empenhara todo seu dinheiro. Estava falido, e o coveiro sádico veio para mostrar que o seu negócio era outro. Zé do Caixão foi apresentado ao público no mesmo ano em que uma junta militar inaugurava a mais longa e tenebrosa noite da história brasileira. À Meia Noite Levarei Sua Alma chegou às telas em 1964 e logo atraiu multidões por sua mistura de niilismo, sexo, violência. Era um filme de terror, gênero até então inexplorado por aqui, e aos espectadores que talvez esperassem ver na tela a emulação dos modelos estrangeiros, com seus castelos assombrados e monstros de outro mundo, Mojica apresentou uma cidadezinha do interior, com seu povo simples e supersticioso, falando o melhor caipirês do Vale do Paraíba.
Essa gente jeca é ameaçada por um sujeito desaforado que, logo no início, aparece comendo uma perna de cordeiro em plena sexta feira santa. Josefel Zanatas (leia ao contrário esse sobrenome), o Zé do Caixão, blasfema e demonstra constantemente seu ódio às crendices populares e à falta de inteligência. Duas coisas guiam suas ações, a iconoclastia e a busca pela mulher perfeita, capaz de lhe dar um filho perfeito.
Essa premissa se mantém de À meia noite levarei sua alma até Encarnação do Demônio, de 2008, penúltimo filme de Mojica e último com Zé do Caixão. A busca é o pretexto para o personagem cometer as piores atrocidades. As pretendentes do coveiro são submetidas a torturas diversas: aranhas e escorpiões passeando pelo corpo nu, chibatadas, mutilação – uma delas chega a comer um pedaço da própria nádega, outra passa dias na barriga de um porco. Tudo para descobrir se são destemidas o suficiente para gerar o übermensch tupiniquim. A propósito: é surpreendente a semelhança entre os discursos de Zé do Caixão e as divagações de Zaratustra, especialmente porque a possibilidade de Mojica ter lido Nietzsche é muito remota.
Era um intuitivo, um autodidata que ganhou uma câmera aos doze anos, criou um estúdio de fundo de quintal – em um galinheiro, mais especificamente – largou a escola na quinta série e foi fazer a única coisa que o deixava feliz, filmes.
Cresceu, por assim dizer, em uma sala de projeção. Antônio Marins, o pai, gerenciava um cinema, na década de 40, por onde passaram Tom Mix, Tarzan, Flash Gordon, Drácula, Frankenstein e outros monstros. O Cine Santo Estevão, em Vila Anastácio, subúrbio de São Paulo, às vezes também se transformava num concorrido palco de shows onde se apresentaram, entre vários outros, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Aurora Miranda e Vicente Celestino. Em 1942, quando pisou pela primeira vez no palco do Santo Estevão, Celestino era famosíssimo.
Consta que estava completamente bêbado, o que não o impediu de realizar uma apresentação memorável; a voz tonitruante e a dramaticidade das canções de Celestino não sairiam mais da memória do pequeno José Mojica, então com seis anos. “Coração Materno”, pérola do melodrama fantástico, está, de certa forma, nos filmes de Zé do Caixão, assim como os filmes de Orson Welles, os folhetins de radionovela, os despachos de macumba, comuns em Vila Anastácio, e as histórias em quadrinhos que Mojica consumia avidamente e que, até onde se sabe, eram sua única leitura. Diferente da tradição hollywoodiana e de qualquer outra, seu cinema foi desenvolvido sem escalas conceituais ou teóricas e é um dos exemplos mais bem acabados da antropofagia cultural brasileira.
José Mojica Marins poderia ter ficado rico, especialmente entre 1967 e 1968, período de maior popularidade de Zé do Caixão. Nessa época, estrelava Além, muito além do além, programa de tevê em que contava histórias “verídicas” que saíam da fértil imaginação do maior escritor pulp que o Brasil já conheceu, Rubens Lucchetti. O programa batia recordes de audiência, e Zé aparecia diariamente em jornais e revistas que alardeavam seus feitos e o chamavam de débil mental. Era chamado também de gênio por figuras da intelligentsia como Glauber Rocha, Rogério Sganzerla e Cacá Diegues. Sem empresário, aceitando qualquer tipo de negócio, vendeu os direitos da maioria de seus filmes para poder finalizá-los e viu sócios ficarem milionários enquanto vendia os móveis de casa para manter o estúdio-escola de atores de onde saía boa parte do elenco de seus filmes.
A penúria econômica não o impediu de, em 1969, realizar uma das obras mais inventivas e experimentais da história do cinema brasileiro, O Despertar da Besta (Ritual de Sádicos), seu opus magnum. Cheio de imagens desafiadoras como a fileira de nádegas fumantes e o pênis com olhinhos e boca disfarçado de monstro e movido por fios de nylon, esse grande delírio de Mojica tem como ponto de partida um experimento em que um grupo de burgueses toma LSD e é exposto à exibição de filmes protagonizados por Zé do Caixão. Como contraponto ao experimento, uma reunião de jovens ‘transviados’ que enlouquecem fumando maconha e bebendo cachaça e acabam por violentar e matar uma moça.
Entre uma coisa e outra, desfilam vários tipos corrompidos, cada um com sua tara. Não há redenção. Personagens que se comportam de forma abjeta não são punidos, linhagens sociais e geracionais estão unidas na amoralidade e no crime. Diferente dos filmes anterior, em Ritual de sádicos, Zé do Caixão não é o agente de uma cruel punição moral, ele é um espelho que reflete a violência dessa sociedade. Quando aparece em cena, o filme, quase todo em preto e branco, se torna colorido, e no delírio psicodélico dos burgueses tudo pulsa, agride, transtorna e desorienta os personagens, assim como o espectador. A alucinação do tipo power sem flower descamba para a tortura e para a perversão. Não são mais as provas terríveis para encontrar a mulher perfeita: estamos em plena alegoria surreal do subdesenvolvimento.
Mojica caiu em desgraça nos anos 70. Como Ritual de Sádicos, praticamente todos os filmes que dirigiu foram picotados pela tesoura da censura. As políticas de mecenato estatal da Embrafilme, o alcoolismo e as bagunças da vida pessoal completaram sua descida ao inferno. Nos anos 80, chegou a fazer filmes pornô como 24 horas de sexo explícito e 48 horas de sexo alucinante. Já era então um personagem popularesco que, pra fazer uns trocados, submetia seu alter-ego a cortar as unhas no programa Viva a noite, apresentado por Gugu Liberato. Era a vingança simbólica de uma sociedade conservadora que podava as garras de um artista que sempre a desafiou. No início dos anos 90, foi surpreendido com o convite para participar de duas convenções de fãs de terror nos Estados Unidos: era o começo da gradual retomada de sua carreira. Tornara-se um sucesso cult fora do Brasil e viria a conhecer fãs como Joey Ramone, Gaspar Noé e Rob Zombie, famosos de quem ele nunca tinha ouvido falar. Para o público brasileiro que o conheceu nesse momento, Zé do Caixão era pouco mais que a figura bizarra que apresentava diariamente uma sessão de filmes chamada Cine Trash, onde, por sinal, nenhum filme dele foi exibido. Talvez porque Mojica nunca tenha feito um filme trash.
Seus filmes não são deliberadamente descartáveis. Ele nunca quis ser engraçado e, se fez concessões, é porque precisava sobreviver e continuar filmando. De qualquer forma, é como escreveu Rogério Sganzerla: “Mojica deu tudo de si para construir uma obra, perfeitamente assimilada e reconhecida no exterior. Mas não passa de um estrangeiro em seu próprio país (…) pois tudo se perdoa nos trópicos, menos a inteligência e a criatividade”.
Quando fiquei sabendo da morte de Mojica, compartilhei em duas redes sociais uma foto do dia em que o conheci, em 1998. Mojica tinha vindo para promover o lançamento de Maldito – A vida e o cinema de José Mojica Marins, o Zé do Caixão (1998), livro de André Barcinski e Ivan Finotti, na Casa de Cultura Mario Quintana. Fiz questão de ir até lá para vê-lo de perto. Era fã dos filmes de Mojica, que assisti pela primeira vez no final dos anos 80, em uma semana dedicada a ele na tevê Bandeirantes. Na semana anterior, o canal tinha exibido uma seleção de filmes de Buñuel, e o estilo de um parecia com o do outro. Ambos seguiam uma lógica que parecia estar nas entrelinhas, em algum lugar do momento em que os filmes foram produzidos. Curiosamente, eu tinha maior intimidade com o surrealismo de Buñuel, sobre o qual já tinha lido e ouvido falar. Havia uma série de elementos no cinema de Mojica, na mistura de precariedade e invenção que o caracteriza, que me parecia estranha, no sentido freudiano do termo: tinha algo de familiar naqueles filmes, que eu não sabia dizer o que era. Essa estranheza era embalada por uma estrutura narrativa mais simples que a de Buñuel, ao menos nos primeiros filmes, e que se tornava gradualmente mais complexa no decorrer da obra.

: Caras de interpretação de Mojica (entre 1953 e 1955), quando o cineasta tinha o que chamou de Indústria Cinematográfica Apolo, um galpão na Freguesia do Ó
Passei a garimpar em locadoras e organizar exibições domésticas dos filmes de Mojica. Não era fácil encontrá-los naqueles tempos de transição do VHS para o DVD e de internet discada. Para a maioria dos amigos e amigas, aquelas sessões eram o primeiro contato com a esquisitice de Zé do Caixão. Pra vários deles, também seria a última. Era necessário certo empenho pra chegar até o fim de Esta noite encarnarei no teu cadáver (1967) ou Exorcismo negro (1974), e nem todos tinham o mesmo interesse que eu. De qualquer forma, aquelas sessões, como outras a que submeti amigos, familiares, namoradas e alunos, renderam, na quarta passada, uma série de mensagens de pesar pela morte de Mojica. Era como se eu fosse da família. Tinha levado sua palavra filmada mais longe do que imaginava.